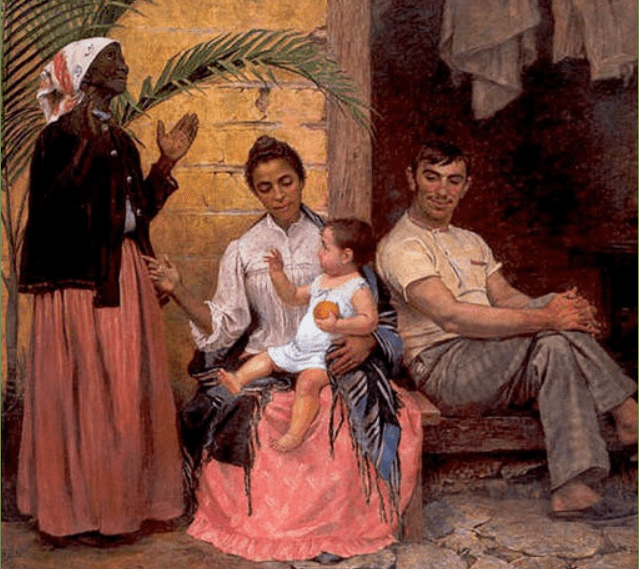Volnei Antonio Dassoler (*)
Perplexidade, decepção, sofrimento e coragem compõem o mais recente capítulo de um roteiro kafkiano do drama social, histórico, emocional e jurídico envolvendo o incêndio na boate Kiss e seus desdobramentos.
No dia 05 de setembro de 2023, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou o resultado do júri realizado em dezembro de 2021 por identificar irregularidades no rito processual. Com a decisão da nulidade, um novo julgamento precisará ser realizado. Por óbvia insuficiência de conhecimento e competência técnica em relação ao mundo simbólico do direito, meu comentário passará ao largo da lógica dos argumentos que culminaram nessa decisão. Gostaria, contudo, de contribuir no debate apresentando outros aspectos também qualificadamente técnicos, ainda que sob outro ponto de vista, entendendo que a necessária garantia da segurança jurídica não deveria desconsiderar ou desqualificar as questões morais que acompanham toda e qualquer intervenção humana.
Como esperado, desde os primeiros momentos, lá em 2013, o sistema judiciário ganhou protagonismo nas narrativas que foram se produzindo no contexto da tragédia. A expectativa acerca da atuação da Justiça – como função reguladora do laço social – foi inevitável na medida em que acontecimentos potencialmente traumáticos e de alcance coletivo, como o acima referido, têm o poder de afirmar ou abalar a confiança necessária relativa às instituições mediadoras do pacto civilizatório. Num cenário de crise, o resgate da confiança é fundamental para a retomada da vida coletiva, e o desenvolvimento dessa relação de confiança depende da confirmação simbólica e material correlativas à função de amparo atribuída aos representantes do Estado. O que era para ser uma trajetória difícil e penosa de acompanhamento processual que culminaria num júri encarregado de apurar e definir responsabilidades sobre o fato em si converteu-se forçosamente numa luta por “exigir” justiça. Lamentavelmente, esta realidade é mais frequente do que imaginamos para parte da população brasileira, que, muitas vezes, precisa, além de gritar seu apelo ao vento, depositar “fé” onde se deveria esperar o cumprimento do dever. Tais reações apontam a dimensão política que acompanham as manifestações de revolta, descontentamento e sofrimento emocional.
Tão importante quanto o que vai ser decidido é o tempo de espera pela deliberação. Ainda que sejam coisas distintas, os trâmites processuais não são nem “inócuos, nem inodoros”, interferindo decisivamente na vida de todo e qualquer sujeito envolvido sob o signo da insônia, da apatia, da desesperança, do adoecimento psíquico. Há, portanto, uma dupla face na reivindicação de justiça: uma que diz respeito à reparação ao dano concreto, perda material ou física e outra, simbólica, que versa sobre como esse processo teria sido ou estaria sendo conduzido, avaliação que não raro pode chegar a despertar a sensação de que algum dos interessados possa ter sido ou estar sendo ludibriado. Dez anos é tempo demais para qualquer parte verdadeiramente comprometida com o nobre ideal de justiça. Para algumas pessoas – neste caso, trata-se das vítimas –, essa demora reverbera como um segundo ato de violência, tornando ainda mais precária a condição de vulnerabilidade suscitada pelo fato ocorrido uma década atrás. Com efeito, quanto mais distante ele vai ficando no tempo, mais aquilo que é oferecido como justiça corre o risco de perder valor simbólico, parecendo mais injusto e esvaziado da função reparadora que lhe é suposta,
Além disso, a demora na realização e finalização do júri – sem entrar no mérito processual e legal relacionado a ela – introduz uma distância temporal e emocional da população com o ocorrido, acirrando uma disputa narrativa e abrindo espaço para aflorar a crítica onde antes havia solidariedade, pela individualização do acontecimento (enfatizando-se seu caráter de excepcionalidade) e pela exclusão das responsabilidades coletivas na apuração desse cálculo. Nesse panorama, alguns discursos flertam com a injustiça descompromissados com o dever ético e moral da memória às vítimas e à cidade.
Assim, a maneira como os diferentes entes do sistema de justiça atuaram no caso da Kiss, desde o início até o presente momento, acarretou que – deliberadamente ou não – seu protagonismo ficasse marcado como insatisfatório e deletério ao favorecer a emergência de conflitos e expor pessoas a situações de constrangimento e desgaste, tendo forçado, inclusive, a que parcela da população afetada assumisse posições mais incisivas como forma de manter em primeiro plano uma luta que, em tese, nunca deveria sequer ter atingido tal condição.
Por fim, se a nulidade do júri aponta irregularidades, estas não deveriam acarretar algum tipo de responsabilização das instâncias partícipes na medida em que suscitaram efeitos e consequências que não desaparecem com a marcação de um novo julgamento? Cabe recordar, para não esquecer, que um dos impasses desta ação, na sua origem, foi a exclusão de entes/agentes públicos da denúncia que deu lugar ao presente processo. Nesse sentido, o júri da boate Kiss mostra-se paradigmático tanto para apontar a discrepância de poder no embate entre o cidadão comum e o ente público nas diversas instâncias onde essas partes se encontram em conflito, como para se pensar em algo do recalcado retornando à cena.
(*) Psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA), Doutor em Psicologia Social e Institucional (UFRGS). [email protected]
§§§
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.