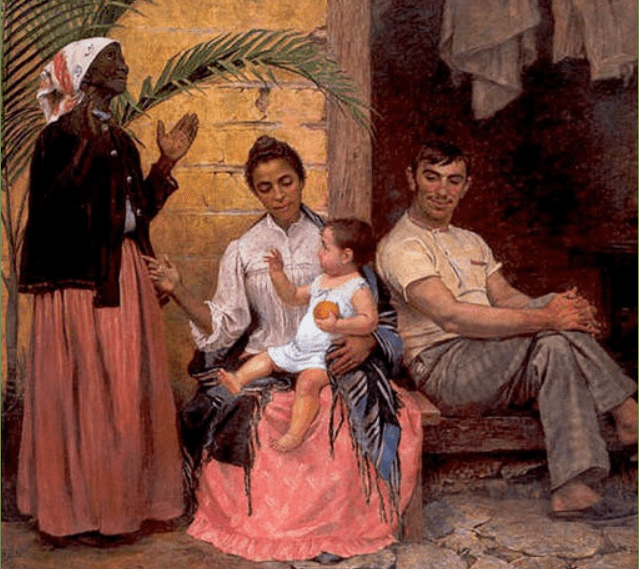Carlos Frederico Guazzelli (*)
Neste mesmo espaço, em artigo publicado em quatro partes, entre fevereiro e abril de 2015 – e intitulado “As sequelas da ditadura” – buscou-se identificar um conjunto de práticas e rotinas, leis e ideologias, originárias do período ditatorial inaugurado com o golpe civil-militar de 1964, e ainda presentes na nossa vida social, política e cultural.
Foi ali destacada, em primeiro lugar, a institucionalização da tortura, a qual, malgrado consista em marca odiosa de nossa história, herança permanente dos três séculos e meio de submissão da maioria da população à escravidão, foi sistematicamente adotada como método de atuação das agências do aparato montado pelos ditadores para perseguir seus oponentes – reais, potenciais ou fictícios. Uma vez modernizadas e institucionalizadas, estas técnicas de suplício foram reincorporadas aos aparelhos repressivos estatais e, mesmo ilegais, continuam vigentes em delegacias, presídios e estabelecimentos destinados a adolescentes.
Também foi abordada a militarização das polícias estaduais, às quais o regime de exceção passou a encarregar a responsabilidade pelo policiamento ostensivo e preventivo – com resultados danosos até nossos dias, em face da notória e frontal incompatibilidade entre o exercício destas atividades, essencialmente civis, e organismos de formação e atuação tipicamente castrenses. Não por acaso, apesar de décadas de redemocratização, as polícias brasileiras continuam entre as que mais matam; bem como seus componentes estão entre os policiais que mais morrem em serviço, em todo o mundo.
Apontou-se, igualmente, o aviltamento da atividade política como outra das mazelas deixadas por uma ditadura marcada pela manutenção de certas instituições da democracia formal – devidamente controladas, para não dizer descaracterizadas. Assim, a imprensa era tolerada – mas com censura prévia; os sindicatos foram reabertos – mas com interventores, assim como as universidades e demais entidades culturais. E havia também partidos – apenas dois, ambos criados pelos governantes, um para apoiá-los, outro para exercer uma oposição consentida e limitada; e eleições, restritas aos parlamentos e governos das cidades pequenas e menos importantes.
Eles visavam, com isso, de um lado, tentar justificar-se diante da opinião pública internacional, crescentemente contrária, diante da denúncia dos abusos cometidos por seus esbirros; e internamente, dispor de mecanismos de descompressão social, sem correr risco de perda do controle da situação. O certo é que as práticas patrimonialistas, que sempre acompanharam a história política do país, foram então notadamente amplificadas, uma vez que a atuação de parlamentares e governantes eleitos passou a resumir-se ao “toma lá, dá cá” de verbas e emendas orçamentárias – reservado o poder de decisão sobre os temas relevantes, aos militares, tecno-burocratas e dirigentes civis do regime.
Por fim, a outra sequela da ditadura de ’64 ali apontada – consistente na concentração dos meios de comunicação de massa, adotada no período e até hoje vigente. Com efeito, os grupos regionais que controlavam as rádios e os jornais – e a nascentes redes de televisão, que ainda não dispunham da enorme audiência e poder que logo viriam a atingir – foram beneficiados pelos ditadores, em retribuição ao prestimoso apoio que deram à eclosão do golpe, mediante a difusão diuturna do discurso anticomunista mobilizador de parcelas das camadas médias urbanas e das oligarquias rurais, contra o governo de João Goulart e seu programa de reformas.
A recompensa por eles recebida reside no oligopólio que lhes permite, até hoje, deter diferentes mídias no mesmo espaço – a chamada “propriedade cruzada” dos meios de comunicação, expressamente vedada nos principais países capitalistas, nomeadamente nos EUA e na Europa Ocidental – e que continua acarretando manifesto prejuízo à livre circulação da informação e da opinião, com pluralidade e transparência.
Cabe referir, agora, outro maléfico produto deixado pelos governos ditatoriais, que contribui em muito para infelicitar o país, em especial nos últimos tempos. Trata-se da formação dos militares, então implantada e ainda em pleno vigor, sob os ditames da “doutrina da segurança nacional”, odiosa ideologia criada pela direita militar francesa e aperfeiçoada pelos norte-americanos, que orientou a deflagração do putsch de abril de 1964 e desde então introduzida na caserna. Gestada sob o cenário da chamada “guerra fria” – que dividia o mundo entre o Ocidente, livre e cristão, e a “cortina de ferro” – seu conceito central é o de “inimigo interno”, que não mais se apresenta como um exército identificado, mas antes se dilui entre a população, com a qual se confunde.
Esta ideia de um inimigo disperso em meio à sociedade civil, abrangia não apenas os comunistas, propriamente ditos, mas também os “cripto-comunistas”, os “aliados”, os “companheiros de viagem” e também “os inocentes úteis”. A missão das forças armadas, diante desse perigo insidioso e disfarçado, passou a ser a de exercer vigilância estreita contra todos os setores sociais – especialmente, estudantes, operários, intelectuais, políticos e até mesmo religiosos de orientação nacionalista, progressista ou esquerdista.
Importa salientar, aos efeitos deste artigo, que a nova doutrina passou a presidir e dominar os currículos das escolas e academias militares, as quais, até o triunfo dos golpistas, eram permeadas por diferentes influências filosóficas ou ideológicas. É fato conhecido que o exército brasileiro, bem como as demais forças federais, foram grandemente influenciados pelo positivismo e pelas ideias republicanas, desde o final do século XIX. De resto, ao longo do século seguinte, os militares participaram ativamente das lutas políticas, de que são exemplos notáveis o movimento tenentista, a “Coluna Prestes”, os conflitos dos anos 1930 e 1940 envolvendo comunistas e integralistas.
A forte politização do país, antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, envolveu também os quartéis, de onde eram provenientes muitas das lideranças dos diferentes partidos e facções em disputa pelo poder. Às vésperas do golpe de estado, a aguda divisão política do país entre dois grandes blocos – de um lado, os herdeiros de Vargas e seus aliados, reunidos em torno das “reformas de base” de João Goulart; e de outro, as hostes oligárquicas e seus apoiadores nos estratos médios urbanos, mobilizados pelo discurso cristão e anticomunista – já havia penetrado fortemente na caserna. E, não bastasse os oficiais e comandantes estarem divididos entre estes dois polos, os escalões subalternos haviam se organizado no chamado “movimento dos sargentos”, militando ostensivamente em apoio a Jango e suas propostas reformistas.
Esta foi, aliás, umas das razões invocadas pelas lideranças militares de direita, para tentar justificar a conspiração que redundou na derrubada pela força de um governo legítimo e democrático: a tal “quebra da hierarquia e da disciplina”, vislumbrada na organização das praças em favor da melhoria das condições de vida da população, da defesa do patrimônio público e da soberania nacional.
Por isso, uma vez chegando ao poder, tratam logo de alterar profundamente a formação do pessoal militar, estritamente sob os preceitos da cartilha da “segurança nacional”. A partir daí, em todos os escalões, as organizações militares passaram a ser blindadas do risco de qualquer influência ideológica divergente ou oposta, do que resultou o inegável rebaixamento intelectual e cultural da oficialidade desde então formada.
O reflexo da redemocratização do país, com a chamada “volta dos militares aos quartéis”, sobre as gerações de oficiais, em especial aqueles formados nos últimos trinta anos, é um fenômeno conhecido de alguns estudiosos – que identificam a marca do seu ressentimento mal disfarçado, diante da perda de prestígio e poder que vislumbraram com o fim da ditadura. Bem conhecida, não apenas por historiadores e cientistas sociais, mas por toda a nação, é a história de um deles, mais do que medíocre, uma pessoa intelectualmente sofrível, tão despreparada quanto violenta, e cuja trajetória consiste na maior expressão da degradação da formação militar ocorrida no país.
São estes ressentidos e perigosos personagens que, agora, em torno de seu líder agonizante, voltam a exibir seus arreganhos golpistas, vomitando pública e criminosamente sua nostalgia da ditadura nefasta em que foram gestados.
(*) Carlos Frederico Barcellos Guazzelli é Defensor Público aposentado, foi Coordenador da Comissão Estadual da Verdade/RS (2012-2014)
§§§
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.