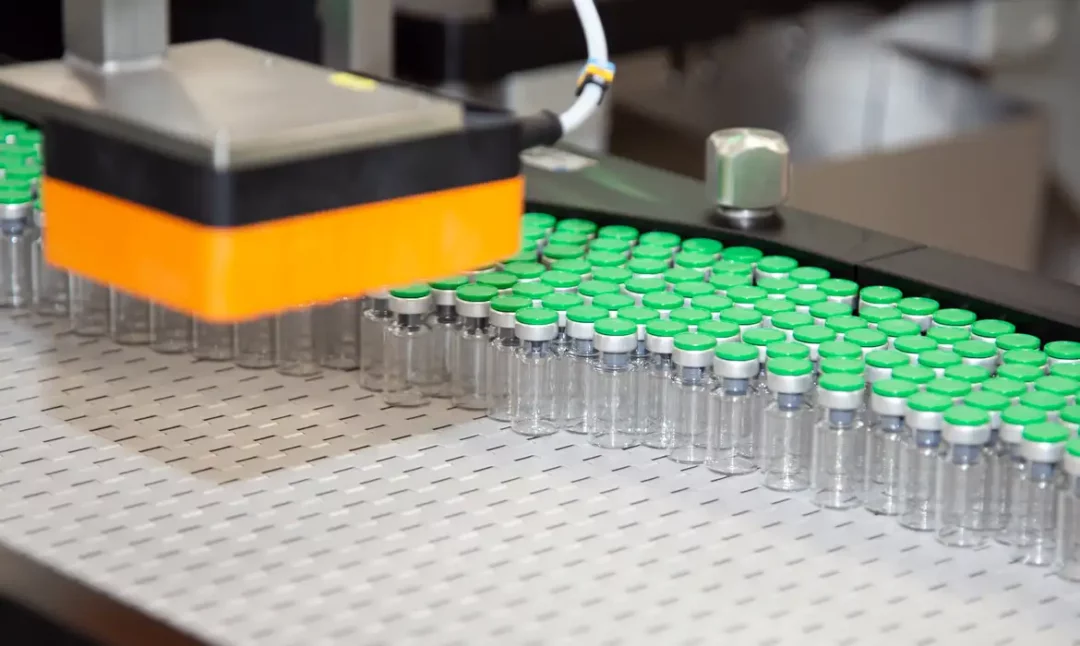Anelise Fróes (*)
Saber do episódio violento ocorrido na “Terra dos Marechais”, chão que me viu nascer, me fez pensar na imensa estátua do Arcanjo, na praça, ao final da rua onde eu morei durante anos. Rua não, avenida; Avenida Presidente Getúlio Vargas – e essa distinção importava muito aos da terra, sobretudo para usar como sinal relevante a indicar para “os de fora”. Também era “a rua da CIACOM”, e justo eu, morava em frente “ao quartel”, a 13ª Cia de Comunicações Mecanizadas do Comando Militar do Sul. Não era difícil morar “em frente ao quartel”, qualquer um deles, em uma cidade com tantos.
Engraçado eu lembrar mais de quarteis que do Arcanjo, quando penso em São Gabriel. Mas bem, eu também lembro da pensão que minha tia avó mantinha para jovens que iam “servir o quartel”, onde podiam ter cama, comida e o cuidado da velha senhora que fazia as vezes de mãe dos jovens assustados, jogados na fronteira, longe de suas famílias, porque assim o exército tinha decidido. Lembro da sorveteria onde ia aos domingos com meu pai, no calçadão, perto da prefeitura. De manhã a missa, à tarde o sorvete. E lembro da igreja, claro. Onde fui batizada, fiz primeira comunhão, levei alianças em casamento de amigos da família, orgulho do padre que me batizara, me vendo “daminha de casamento” aos 7 anos, e tomada de um total sentimento de “o que estou fazendo aqui?!”, as fotos não me deixam mentir…
Mas volto ao Arcanjo. Penso, no domingo frio desse agosto de 2022: será que o Google o mostra? Existe no mapa? É ao final da Av. Presidente Getúlio Vargas, na pracinha, no alto de um pedestal enorme. Iluminado à noite, o Arcanjo Gabriel e a praça delimitam uma quase-fronteira: após a pracinha, a rua desce, vira outra, e termina no rio Vacacaí por um de seus lados. Ninguém, muito menos crianças, ousaria ir além da pracinha “do anjo”. O menino Gabriel, corpo encontrado em um açude, provavelmente igual a um dos tantos onde vi meu pai pescar quando eu era menina, carregava o nome do Arcanjo que dá nome à cidade.
Minha tia avó Dorvalina, morta quando tinha quase 100 anos, já há uns trinta anos, deve por certo ter sido substituída por outras mulheres, outras pensões, hoje sem dúvida dotadas de wifi, instalações melhores, refeitórios amplos, mas que ainda servem ao mesmo objetivo, acolher os meninos que saem da infância e vão “servir”, jogando suas mães na angústia de não saber se ficam aliviadas quando são dispensados (muitas vezes envergonhando os pais), ou se torcem para serem incorporados, porque, por um ano, terão comida, casa, disciplina e um pequeno soldo a ajudar a família.
“Servir”, e nós desgarradas desses pagos onde quartéis são mato mais do que o mato, sabemos bem, é tornar jovens arrimo de família. É a possibilidade de fazer carreira, quem sabe. É o padrinho poder exibir a foto no álbum, e dizer na mesa de domingo “esse meu guri vai ser general!” Eu vi essa cena em casa umas duas vezes. O álbum hoje talvez seja no Instagram, mas a cena deve persistir.
Gabriel nem teve tempo de fazer amigos em qualquer pensão que talvez haja em São Gabriel. Mesmo que não residisse em uma, tinha um tio que o acolhera. Antes disso, ele “perdeu os cavalos” do patrão chamado sistema, e, mesmo que não os tivesse perdido, o patrão daria um jeito de forjar provas para justificar açoites, castigos, torturas, morte. Gabriel, carregando o nome do arcanjo que dá nome à cidade para onde foi enviado, morreu inocente e segue em caminho perigoso, aquele que converte a vítima em culpado.
Eu sei. A cidade deve comentar à boca pequena sob o sol de inverno, lá no Chimarródromo do calçadão, na pracinha do Arcanjo, na Praça da Matriz, tomando chimarrão e usando grossos palas por cima das bombachas, que o menino deve ter feito alguma coisa. Alguma ele aprontou, é claro. Não raro, o morto não fala em sua defesa. Falam sobre ele. Outros, nos quartéis, se perguntariam se poderão ser os próximos. Se não seria melhor ter ficado em casa e ter ganhado a dispensa do Exército.
Mas sei também, ainda que não olhe essa terra chamada São Gabriel nos olhos há quase 40 anos, que depois da fronteira do Arcanjo existem territórios assombrados, em que os gabrielenses “de bem” não chegam. Perto do Rio Vacacaí, casebres e vilas e becos guardam outra cidade e outros meninos, e suas mães sabem que existe uma fronteira e o que isso significa. Do outro lado da cidade, lá perto do 6° BE, Batalhão de Engenharia de Combate, quase ali onde era a pensão de minha tia avó, também há vielas. Becos. Casebres.
Pouco adiante, fica o Cemitério, onde está o túmulo da menina assombração que morreu violentada. Mas é no muro do quartel que está o túmulo simbólico dos irmãozinhos fuzilados, ou negrinhos fuzilados, ou apenas, “Capela dos Fuzilados”. Ali, dois soldados pobres, oriundos de outras cidades, foram fuzilados por desrespeitarem regras do exército. Um, por brigar por um pedaço de carne na distribuição da comida; outro, por só ter uma muda de roupa e não ter sabão para lavá-la. Foram condenados à castigos físicos, foram açoitados com chibatadas públicas, e por fim, em 1855, foram fuzilados junto ao muro. Agostinho e Joaquim, meninos pretos, se tornaram santos populares. Ou assombrações reavivadas cotidianamente? A Capelinha dos Fuzilados, lugar de peregrinação, me assombrava na infância porque minha avó me levava pela mão em 2 de novembro quando acendia velas para eles, me contando a história. Todo ano. E eu via todas aquelas pessoas buscando milagres em meninos fuzilados, e tinha medo de os avistar, feito fantasmas, como os moradores da cidade diziam acontecer.
Meu pai olhava para a história deles com mais raiva do que devoção. Aliás, nenhuma devoção. Meu pai falava sobre eles porque era uma história de injustiça. E de racismo. Lembrava-se nesse século algo que era de antes ainda da Abolição da Escravatura no Brasil. Eu olho para a cidade onde nasci com distanciamento e nostalgia. Mas, sobretudo, a tenho nesse lugar de memória. De uma cidade entre anjos, milagres, quarteis, assombrações, meninos mortos.
É esse avivamento de memórias que só “sendo de lá” para entender o impacto da queda de um anjo. O que não tem lugar, nem depende de pertencimento, é a continuidade do racismo. Das injustiças. Das mortes que não se explicam. Dos corpos desaparecidos e depois encontrados, entregues às famílias quando não podem mais dizer coisa alguma. Silenciados.
O caminho das assombrações, como em um “incidente em Antares” é atualizado, exige gritar até que sejam ouvidas. É existir, para lembrar seus algozes de que seguem vivas, enquanto alguém lembrar delas. Enquanto alguém insistir em suas presenças a fazer-se assombração, a inquietar os vivos. Gabriel não vai ser santo popular, mas São Gabriel dificilmente vai esquecê-lo.
(*) Antropóloga – Doutora em Antropologia pela UFRGS, UN Consultant Roster
§§§
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.