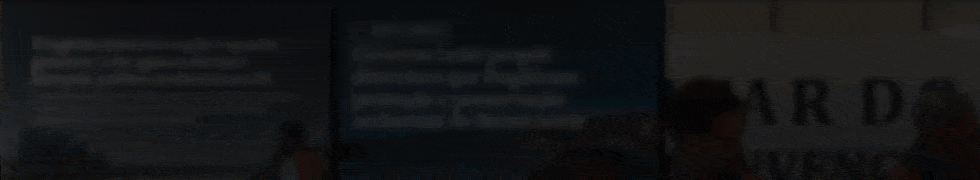O que ocorre no Rio Grande do Sul nas últimas semanas não é inédito no Brasil. Em proporções, talvez. Mas, em 2011, um grande desastre deixou quase mil pessoas mortas na Região Serrana do Rio de Janeiro. Novos desastres vão acontecer em algum momento. O Sul21 conversou com o engenheiro e professor Júlio César da Silva, pesquisador do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Cepedes/UERJ), para entender qual a comparação que pode ser feita entre os dois eventos climáticos extremos e quais as lições o Rio Grande do Sul pode aprender com o que foi e o que deixou de ser feito em seu estado.
Leia mais:
Melo diz que Prefeitura ‘não foi pega de surpresa’ com as chuvas que voltaram a alagar a Capital
Bairros alagam depressa e diretor do Dmae diz que chove ‘além do que os modelos previam’
Engenheiros do Dmae alertaram sobre riscos no Centro, Menino Deus e Sarandi em novembro
Marketing ou impacto social? Empresas ajudam de formas diferentes na tragédia das enchentes no RS
Capital tem 100 mil imóveis vagos, mas Melo diz que não há unidades para todos os desabrigados
Tragédia histórica expõe o quanto governo Leite ignora alertas e atropela política ambiental
Em termos de vítimas fatais, o maior desastre natural da história do Brasil ocorreu em janeiro de 2011, na Região Serrana do Rio de Janeiro, afetando cidades como Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Sumidouro e Bom Jardim. Na ocasião, 918 mortes foram confirmadas, mas estima-se que centenas tenham permanecido desaparecidas. Até o momento, as chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul provocaram 162 mortes — dados da Defesa Civil na noite de quarta-feira (22) –, mas a área impactada foi maior, uma vez que 467 municípios, de um total de 497, foram afetados de alguma forma pelas chuvas.
Júlio avalia que há questões semelhantes e diversas entre os desastres. A primeira ponderação que ele faz é a de que a “culpa não é somente da chuva”. “Por quê? Porque as mudanças climáticas, os eventos extremos são responsáveis, sim, pelos problemas. Só que não é só isso. A gente tem que preparar melhor a cidades para receber esses eventos extremos que, com as mudanças climáticas, acreditando ou não nelas, se elas estão acontecendo com ação, com interferência dos seres humanos ou não, elas vão acontecer. Essa dinâmica atmosférica já vai vai fazer com que a gente tenha esses eventos extremos, o problema é que a gente está agravando esses eventos. Eles estão cada vez com maior magnitude e com menor intervalo de tempo. Isso é um problema. Mas a gente precisa preparar melhor as cidades”, diz. “”Essa chuva que acontece em Porto Alegre foi a maior já registrada. A chuva que aconteceu na bacia de Santos [em fevereiro de 2023] foi a maior registrada dos últimos 25 anos. A chuva que aconteceu no último verão em Petrópolis foi a maior registrada nos últimos 15 anos. Por isso que eu falo que a culpa não é somente da chuva, acho que essa frase é importante frisar, a culpa também é da chuva. Mas colocar a culpa na chuva é muito forte, eu acho que a gente pode planejar melhor a cidade”, complementa.
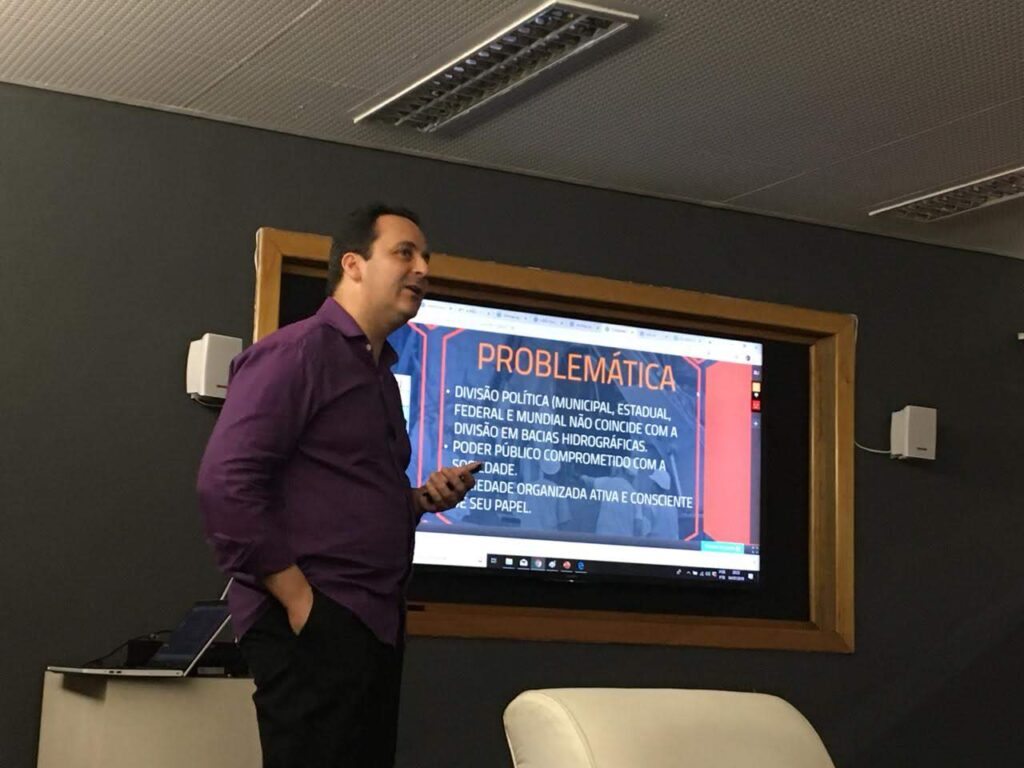
Do ponto de vista do tipo de desastre, o maior problema enfrentado pela Região Serrana do Rio foi de escorregamentos e deslizamentos de terra, pelo fato da região ser escarpada. Já no Rio Grande do Sul e, especialmente em Porto Alegre, os alagamentos e inundações causaram maiores impactos. “Essa é uma diferença. Os dois tipos de desastre que a gente têm são escorregamento e alagamento, inundações. No Rio Grande do Sul, teve as duas coisas. Em maior magnitude foi a questão dos alagamentos e inundações. E aí tem um aspecto importante, em grande parte dos principais rios, a intensidade de chuva no Estado foi maior do que caiu em Porto Alegre, só que Porto Alegre foi muito afetada, e outras cidades também, porque toda a água ocorreu para o Guaíba, que é uma região extremamente plana, onde a dissipação de água para a Lagoa dos Patos, depois para o mar, é muito lenta”, diz.
Para o professor, os dois eventos, assim como a grande maioria de desastres naturais que ocorrem no Brasil, são agravados pela desordem urbana e pela falta ou mau planejamento urbano das cidades. “Por exemplo, Porto Alegre é uma planície de inundação. Então, teoricamente, alguns lugares não deveriam ser ocupados, mas é um contexto social complicado você remover pessoas de algum lugar, isso também não é viável num curto espaço de tempo”, diz.
Outra comparação que o professor traça entre os eventos do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro é a falta de investimento em prevenção. “Tanto a Região Serrana do Rio de Janeiro, como no Rio Grande do Sul, não só Porto Alegre, existem obras não executadas. Existem obras já planejadas que não foram executadas. Poderia ter atenuado os problemas, talvez não poderiam resolver o problema, mas teriam atenuado o problema. Tanto aí (RS), como aqui (RJ) naquele momento. Existem também ações vinculadas à questão de proteção ambiental que não foram completamente adotadas aqui na Região Serrana e nem aí no Estado do Rio Grande do Sul. Outra questão que eu vejo também de semelhança é a condição, por exemplo, que é um agravante também de pós desastre. Existem medidas de pré, que a gente chama gestão de riscos e desastres, e gente fica muito fazendo gestão de crise, que é pós evento. Nesse momento de pós, uma coisa semelhante que aconteceu nos dois lugares é as pessoas resistirem a sair de suas moradias, mesmo correndo risco. Por exemplo, as pessoas têm medo de sair de casa por saqueamento. Isso é um problema sério, é um problema social grave e é difícil você controlar se não tiver o planejamento de gestão de crise”, diz.
Questionado sobre o que avançou na Região Serrana após o desastre, Júlio avalia que sistemas foram implementados, mas muitos planos acabaram ficando pela metade, especialmente na cidade de Teresópolis. “A gente tem um problema de corrupção grave, inclusive quatro ou cinco prefeitos de Teresópolis sofreram impeachment por corrupção, desvio de verba, mau uso dos recursos de donativos. Então, quer dizer, ainda tem esses problemas de corrupção durante a implantação desse recurso que chegam. Agora, a gente tem que fiscalizar muito bem o que vai ser feito no Rio Grande do Sul, porque algumas prefeituras infelizmente vão usar mal o recurso. Aqui no Rio de Janeiro, sinceramente se avançou, sim, em algumas obras, mas até hoje tem pessoas esperando moradias que não foram criadas. Não é que todas não foram feitas, algumas foram, mas nem todas. E, pensar a cidade de uma nova forma, não foi pensado. Recentemente teve um escorregamento de menor proporção em Petrópolis, e a gente teve um problema semelhante também de extrapolamento de água na região central. Continuamos tendo problemas. Aqui na região da Baixada Fluminense, teve agora um alagamento maior do que teve no passado, assim como aconteceu no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque as condições de eventos que estão chegando estão encontrando uma desordem urbana maior do que se tinha décadas atrás”, afirma.

Júlio avalia que uma das formas de repensar as cidades é as direcionar para um conceito conhecido como “cidades-esponja”, que prevê que a melhor forma de se lidar com enchentes e inundações é ter áreas que podem absorver a água, seja por meio de lagos artificiais e açudes, seja por meio de áreas verdes com camadas de solo permeáveis, entre outras medidas. “Pensar em resolver o problema passa por melhorar o nosso balanço hídrico artificial. O que é melhorar o balanço hídrico artificial? É equilibrar a quantidade de água que cai no local em relação à quantidade de água que filtra, a quantidade de água que evapora e a quantidade de água que escoa”, diz.
Segundo ele, a implementação do conceito passa por repensar as áreas que já estão ocupadas e compreender que alguns espaços devem ser pensados para poderem ser alagados sem causar transtornos. “Se eu identificar, por exemplo, uma área que é mais difícil de evitar que ela seja alagada, então constrói ali uma região de parque verde, de corredor verde, que você vai usar aquilo ali numa maior parte do ano. Se você pensar em tempo chuvoso, a maior parte do ano a gente passa sem chuva. Então, poderia usar esses parques dessa época e, em uma época de chuvas de evento extremo mais elevado, aquilo vira uma área alagada que as pessoas só não vão poder usar aquela área, mas não vão ser afetadas diretamente, ter a casa ou mesmo as estradas alagadas”, diz.
Ele pondera que a cidade-esponja só é “um sonho” se a ideia for implementar o conceito de uma hora para outra. “Dá para a gente pegar os conceitos e ir implantando e construindo com o passar do tempo uma cidade realmente esponja. É lógico que não vai ser totalmente, porque a transformação não é instantânea”, diz.
Por outro lado, pontua que mesmo se os conceitos fossem bem aplicados, algumas áreas permaneceriam sob risco. “Em algumas áreas, a gente pode fazer algumas melhorias de obras de infraestrutura, eu acho que dá, só que o custo não é barato. Caso não dê, vai ter que fazer o quê? Cidades-esponja, melhorar o balanço hídrico. Em alguns lugares, mesmo melhorando o balanço hídrico, ainda vão ser lugares muito críticos. Aí sim, infelizmente, socialmente é muito ruim, mas fazer a realocação das pessoas, retirar as pessoas daqueles locais críticos e levar para o outro. Isso para mim seria o último ponto, locais onde você mesmo com o investimento em infraestrutura de drenagem não vai conseguir resolver o problema e ainda vai ter as pessoas com o alto grau de risco”, diz.

Para além das cidades-esponja, Júlio destaca que não há apenas uma solução que possa ser tomada para garantir a prevenção de desastres, mas que é preciso produzir um conjunto de soluções que permita dar uma resposta mais global para o problema.
“Tem gente que discute sobre aumentar a conexão com o mar, aumentar a abertura com o mar. Só que, nesse caso, a gente tem um outro problema que é maré, nesse meio tempo teve um problema de maré alta também, mas é uma das ações que podem ser feitas para ajudar a dissipar. A outra é você amortecer a água. Quer dizer, conter a água nos locais. Algumas cidades tinham diques, algumas cidades têm barragens, algumas cidades têm o sistema de bombeamento pata bombear água para fora do dique. Só que esse volume, além de ter sido grande, ele chegou numa região onde já existiam vários canais assoreados. Assoreados por quê? Porque tem desmatamento nas cabeceiras dos rios, nas margens as matas ciliares não são conservadas. Existe um grande movimento de agricultura onde você tem um empobrecimento do solo e uma questão de tirar a cobertura do solo que é proteção. Então, é preciso fazer algumas ações de contenção desses sedimentos e melhorar as capacidades, por exemplo, do manejo de água na agricultura. São ações que podem ser feitas. Assim você vai conseguir minimizar os efeitos e, em alguns momentos, até eliminar os efeitos. Talvez em alguns locais, a gente não consiga eliminar porque a natureza os esculpiu como região de alagamento. Então, depois de todas as ações que podemos fazer, a gente pode escolher alguns locais que são realmente locais muitos críticos, são locais realmente de inundação, para aí sim fazer um remanejo das pessoas, não o remanejo completo, mas o remanejo selecionado a partir do momento que, com as minhas ações, com meus projetos, eu não consigo eliminar completamente a possibilidade de alagamento da região, aquela região deveria ser área de inundação, de lazer, de parque, onde na época sem chuva você pode utilizar, mas na época de chuva você não tem pessoas com casas ali”, diz.

Ele frisa, contudo, que o enfrentamento do problema não pode ser encarado apenas no imediato, uma vez que exige soluções que só podem ser implementadas ao longo de várias décadas, o que exige uma política permanente, com continuidade para além de mandatos de prefeitos, governadores e presidente. O próprio atual sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre começou a ser pensado após a enchente de 1941 e só foi concluído nos anos 1970.
“A gente conseguiria resolver o problema do Rio Grande do Sul no intervalo de quanto tempo? Eu vou dizer que eu imagino que é alguma coisa de décadas. Se você analisar a história da enchente de 1941, foi o grande evento que todo mundo compara, naquele momento tivemos 30% da área do Estado atingida. Hoje, já passou de 90%. Só que, se você pensar bem, as pessoas que estavam no Rio Grande do Sul daquela época teriam que ter mais de 90 anos para lembrar daquele evento. Mas, como afetou 30% da área, então muitas pessoas que têm mais de 90 anos nem foram atingidos naquela época. Quer dizer, a memória de cultura do risco é muito frágil. Então, as pessoas ainda continuam achanado que não vai acontecer com elas. Só que pode ser que isso aconteça num prazo menor, porque os eventos estão ficando mais extremos e estão ficando mais frequentes. E aí eu acredito que pode acontecer em seis décadas, cinco décadas, pode ser. É o prazo para gente tentar resolver o problema, minimizar fortemente o problema? Eu acho que sim, mas é questão de planejar, de planejar com obras, de obras de melhoria de conservação de matas, de vegetação, de planejamento das áreas a serem ocupadas”, pontua.
Ele também frisa que é importante que órgãos já existentes voltados para tratar do tema, como comitês de bacia e a própria Agência Nacional das Águas, precisam ser consultados e ter incidência nos planos futuros. “Principalmente nas tomadas decisões dos gestores públicos. Eles precisam usar desses comitês de bacias, da expertise dessas entidades, para tomar decisões que sejam continuadas”, afirma.
Por fim, o professor avalia que o processo de reconstrução do Estado exige que a ocupação dos municípios ocorra de forma diferente. “Já que teve várias áreas destruídas, porque não mapear melhor essas áreas e liberar as áreas melhores para as pessoas habitarem, por exemplo. Já é uma forma de você fazer uma relocação das pessoas”, diz. “É um momento de se repensar a cidade. E aí eu acho que a gente tem a oportunidade de pensar numa cidade melhor. Vem aquele conceito que todo mundo gosta de falar, mas não gosta de aplicar, das cidades inteligentes. O que é uma cidade inteligente? É uma cidade que é sustentável em termos de uso dos recursos, de matas, de vegetação, de agricultura, de recursos hídricos, mais uma cidade resiliente, que a partir do evento extremo consegue dar uma resposta rápida e voltar às operações muito rapidamente. Todo mundo fala cidade inteligente como se fosse negócio de cidade de futurista, de computador, não é só isso. É lógico que tem inteligência eletrônica, inteligência computacional, a inteligência de automações, mas a inteligência também de como a gente lida com os recursos naturais, como que a gente lida com a natureza. O Rio Grande do Sul tem a chance de reconstruir as cidades de uma forma melhor do que elas estão hoje pensadas. Vamos pensar em reconstruir de uma forma um pouco mais inteligente, uma forma mais sustentável, de uma forma mais resiliente, para que realmente a gente minimize demais os impactos que possam acontecer ao longo de outro evento, que vai acontecer. Os eventos extremos vão continuar acontecendo”, diz.