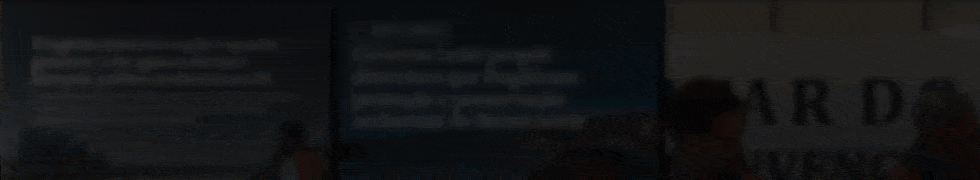Francisco de Carvalho Santana (*)
As fortes e duradouras chuvas espalhadas por grande parte do território gaúcho (450 dos 497 municípios do Estado foram afetados) resultaram em inundações catastróficas nas margens de importantes rios e lagoas do Estado, onde grandes contingentes populacionais se encontram. Muito se perdeu em termos de vidas, memórias, infraestrutura pública e ativos privados. As consequências da tragédia são de escala nacional: a inoperância do Estado (5,9% do PIB nacional, em 2023), interligado produtivamente a outras Unidades Federativas através da compra e venda de insumos e produtos finais, e pela incapacidade de exportar, impacta múltiplas dimensões e setores de toda economia brasileira. Ainda na dinâmica dos acontecimentos, a força do voluntariado e ações do Estado se voltam para o imediato, reconstruindo o destruído e acolhendo os desabrigados. Tendo o médio e longo prazo como perspectiva, especialistas de diferentes áreas já começam a divulgar suas análises e recomendações para a reconstrução e adaptação à nova realidade que enfrentará condições climáticas mais hostis. Aos economistas, pergunta que usualmente surge é: quanto custa [1] e de onde virá o dinheiro para financiar as ações necessárias?
Leia mais:
Quais valores devem prevalecer na reconstrução do RS? (por Gerson Almeida)
Indicadores de Segurança Alimentar e a condição da fome na emergência climática do RS
O debate econômico brasileiro é dominado, há algumas décadas, por discussões voltadas a políticas de estabilização macroeconômica, dando pouco espaço às análises vinculadas às políticas de desenvolvimento produtivo. Essa característica, evidenciada em manchetes e opiniões de colunistas dos principais meios de comunicação, se deve ao domínio teórico de correntes de pensamento que, a grosso modo, entendem que o melhor que o Estado pode fazer é não atrapalhar o funcionamento racional e otimizador dos agentes privados. Havendo fundamentos econômicos estáveis, a economia operaria de acordo com sua trajetória natural de equilíbrio, com preços e desemprego nos seus níveis naturais. O debate ao redor da estabilização macroeconômica se debruça sobre qual seria o “correto” manuseio dos instrumentos de política fiscal, monetária, cambial e regulatória à disposição do governo. As popularizadas discussões sobre o Teto de Gastos de Temer e Bolsonaro, o Novo Arcabouço Fiscal do governo Lula, a política de juros do Banco Central, se encaixam no grupo de políticas voltadas à estabilização macroeconômica. A preocupação, aqui, é manter as contas públicas controladas.
Um aspecto fundamental é que, para um país em desenvolvimento como o Brasil, carente de múltiplos avanços sociais e econômicos, políticas econômicas preocupadas em gerar uma sociedade mais inclusiva e economicamente dinâmica (vinculadas ao segundo grupo de políticas econômicas, as de desenvolvimento produtivo) devem ser consideradas e analisadas com o mesmo afinco dedicado àquelas de estabilização, e não deixadas de lado como ocorre nas discussões econômicas brasileiras há algumas décadas. As primeiras abarcariam os objetivos presumidos de prover condições econômicas adequadas ao florescimento das atividades empresariais percebidas de forma abstrata, enquanto que as políticas de desenvolvimento produtivo elegem objetivamente elementos econômicos e sociais estruturais, como, por exemplo, ter uma renda melhor distribuída, empregos de melhor qualidade e remuneração, uma indústria mais produtiva e menos poluente, entre outros. A despeito da importância fundamental de se ter um “ambiente de negócios” adequado, os instrumentos utilizados para alcançar tal panorama não podem minar as condições de florescimento dos objetivos buscados pelas políticas de desenvolvimento produtivo. É necessário ter uma coordenação entre estes dois grupos de políticas. Diversos pesquisadores que têm seus campos de estudos voltados para a economia brasileira, se debruçaram sobre este aspecto, concluindo que o manuseio dos instrumentos de estabilização (principalmente o da taxa de juros) têm dificultado o alcance dos objetivos de desenvolvimento produtivo [2], [3].
Para o leitor acostumado aos termos das discussões econômicas presentes nas mídias empresariais de maior alcance, o cardápio de instrumentos das políticas de desenvolvimento produtivo pode parecer estranho: política de comércio exterior, de tecnologia e inovação, políticas setoriais para qualificar setores específicos (agricultura, indústria e serviços), dentre outras. Estes instrumentos têm o poder de impulsionar nossa estrutura produtiva e empregatícia, quando utilizados de forma a cumprir prazos e metas pré-estabelecidas e supervisionados de forma adequada. As atenções destas políticas, portanto, são mais variadas do que as das políticas de estabilização, estas preocupadas quase que unicamente com a contabilidade pública. O que se produz e o que se exporta, qual o perfil do emprego que geramos, quão poluente é o nosso sistema produtivo, são algumas das preocupações que, em tese, políticas de desenvolvimento produtivo devem endereçar.
A situação trazida pelas chuvas no Rio Grande do Sul enseja uma readequação da forma como debatemos as preocupações da “ciência econômica” no Brasil. O debate necessitará incluir, pela força e frequência dos choques climáticos prometidos, elementos que andaram desaparecidos nos últimos tempos, vinculados sobretudo à necessidade de investimentos robustos em infraestrutura (a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base aponta um hiato de investimentos em infraestrutura da ordem de 2,32% do PIB em 2023) e à capacidade de planejamento e execução dos entes públicos, de forma a não empreender obras do tipo “tapa-buraco”, mas de nos adaptarmos às exigências climáticas. Devemos inverter a lógica apontada em análise recente feita pelo Tribunal de Contas da União de que os gastos públicos nos últimos 10 anos com defesa civil destinado à recuperação dos desastres equivalem a mais do que o dobro dos recursos destinados à prevenção. Manifesto recém-lançado pelos professores da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS oferece um bom compilado de ações para lidarmos com os novos tempos.
Mas afinal, quanto vai custar a reconstrução e adaptação do Rio Grande do Sul, e do Brasil como um todo? A preocupação dos técnicos envolvidos, neste momento, não deve ser de fazer o possível dentro de um dado limite orçamentário, mas sim de fazer o necessário para reconstrução-adaptada do Estado. Estabelecer uma institucionalidade funcional entre os três níveis de governo, de forma a alcançar uma harmonia decisória, pautada no planejamento elaborado por equipes técnicas capazes de formular planos social, econômico e ambientalmente compromissados, é fundamental. Haverá múltiplos desafios ao longo do trajeto, mas que, dotados de tamanha magnitude e importância, deverão passar por cima das barreiras postas pelos negacionistas climáticos e por aqueles beneficiados por modelos socioeconômicos que não mais se sustentam. Aqui no Estado dispomos de uma ampla rede de pesquisadores, vinculados a instituições universitárias públicas, privadas e comunitárias, inclusive localizadas em municípios afetados pelos eventos atuais, e que possuem consolidado conhecimento acerca da realidade de suas localidades. Que a nossa classe política saiba utilizar esse potencial existente, para que, com políticas adequadas, possamos sair dessa situação ainda mais fortes.
Notas
[1] Em análise preliminar divulgada pelo governo do Estado do RS, estima-se que o custo de reconstrução está na ordem de R$ 19 bilhões
[2] Nassif, A.; Bresser-Pereira, L.; Feijó, C. “The case for reindustrialisation in developing countries: towards the connection between the macroeconomic regime and the industrial policy in Brazil”. Cambridge Journal of Economics 2018, v. 42, p. 355-381.
[3] Terra, F. ; Ferrari-Filho, F. “Novo consenso macroeconômico, estagnação econômica e desindustrialização: o caso Brasileiro”. In: Industrialização e Desindustrialização no Brasil – teorias, evidências e implicações de política (2024) (Orgs. Araújo, E. & Feijó, C.). Ed. Appris.
(*) Doutorando em Economia do Desenvolvimento na UFRGS
§§§
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21