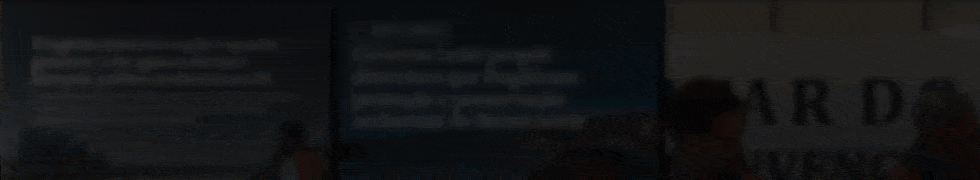Manuela Sampaio de Mattos (*)
Há coisas que precisam da escrita para vincarem o tecido do tempo. E o tempo em que vivemos é liso e escorregadio às marcas, à memória, às palavras em seu sentido simbólico. É chegada minha vez de escrever sobre as enchentes que acometem o Rio Grande do Sul. O tempo da escrita se impõe, e é preciso que isso ocorra. Às vezes, a inibição, a vergonha e até mesmo a isenção sintomática nos impede de perceber o tempo do agir, de correr o risco.
Assim como li em muitos dos textos emergidos desde o início das enchentes, a pergunta que surge diz respeito ao lugar desde onde se pode falar e sobre como falar algo que possa contribuir minimamente ao que estamos vivendo. Então me ocorreu que esse escrito poderia se lançar a partir da convicção de que é preciso continuarmos tentando fazer as marcas na direção do uso da palavra, ou da busca pelo abrigo na palavra [1], já que estamos todos inundados em maior ou menor grau.
As enchentes não acabaram. Ao que tudo indica, e não apenas a ciência, mas também os saberes ancestrais e tradicionais como dos indígenas e camponeses, nosso modo de lidar com o meio ambiente já transformou nosso mundo ao ponto de terem tornado as chuvas intensas e inundações nossa realidade daqui em diante. O antropoceno já vive seu futuro, e essa inversão na linearidade do tempo é ainda uma das mensagens a serem decifradas, interpretadas e encaminhadas. Mesmo que saibamos que cada um leva o seu tempo singular para lidar com a realidade e sua aspereza, essa é uma daquelas mensagens que precisam ser traduzidas e trabalhadas na coletividade e com urgência, a partir da ação política pautada na ética de enfrentar o negacionismo climático e a negligência do poder público a esse respeito.
Conforme já mencionado, estamos todos afetados em diferentes graus e condenados a vivermos as consequências do nosso modo extrativista de habitar o planeta. Olhando para os impactos das enchentes no nosso estado notamos que, embora parte das classes mais altas da sociedade também tenham sido diretamente afetadas pelas águas, uma camada específica dos atingidos sofrem e continuarão padecendo das consequências mais extremas: a população pobre, periférica, negra, quilombola e indígena [2].
O Núcleo Porto Alegre do INCT Observatório das Metrópoles, ligado à UFRGS, fez um estudo produzindo mapas em que é possível verificar que o território mais atingido pelas enchentes abrange as áreas em que os habitantes são os menos favorecidos economicamente e com maior concentração de pessoas negras (pretos e pardos, conforme denominação do IBGE). Na década de 80, Benjamin Franklin Chavis Jr. criou um termo para nomear esse tipo de acontecimento que tem maior impacto em populações mais vulneráveis e de determinadas raças: racismo ambiental. Não é uma surpresa a revelação desses dados em um país que cada vez mais torna evidente o seu racismo estrutural, mas é assombroso e inaceitável que as coisas continuem como estão.
Relembrar os testemunhos de quem foi salvo por pás de retroescavadeiras, helicópteros, barcos, de quem perdeu a sua morada e ficou desabrigado é estarrecedor. Essas imagens-palavra continuam chegando, elas parecem ser infinitas. Viver em Porto Alegre e andar pelas suas ruas tem sido um constante movimento de lidar com essas imagens e com o perguntar-se sobre as águas e sobre a lama. Se elas chegaram ou chegarão até aquele ponto ou não, se as águas já estão em processo de retomada do que era seu antes dos aterros e construções, se nossa geografia já mudou definitivamente. Foram vários os sonhos que escutei que pareciam apontar para esse cenário da inundação e do lamaçal alterando terminantemente as linhas do mapa.
Assim como para muitos com quem conversei, foi impossível ler qualquer coisa que não fossem notícias trágicas no início do interminável mês de maio, esse mês que não acaba. Quando consegui ler o texto da escritora Julia Dantas, que teve sua casa alagada e contou sobre isso, considerei que recebi a primeira boia para atravessar a inundação. Em seguida, comecei a ler seu livro “Ela se chama Rodolfo”. A cada página fui me situando novamente na cidade de Porto Alegre, que há 22 anos me adotou como filha quando saí de Passo Fundo, minha cidade natal. Acompanhar os personagens do livro produziu em mim efeitos de reterritorialização na cidade, pois, ao segui-los percorrendo as ruas de Porto Alegre em busca de um lar para Rodolfo, eu sentia como se estivessem não apenas reconstruindo o mapa da cidade, mas reconstruindo em mim a chance de remapear nossa história.
Como disse meu filho João, de 3 anos, “Porto Alegre sim, Porto Alegre não quebrou”.
Notas
[1] Refiro-me à terminologia criada no contexto institucional da APPOA durante as enchentes.
[2] Conforme nota da Fiocruz.
(*) Psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA)
***
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.