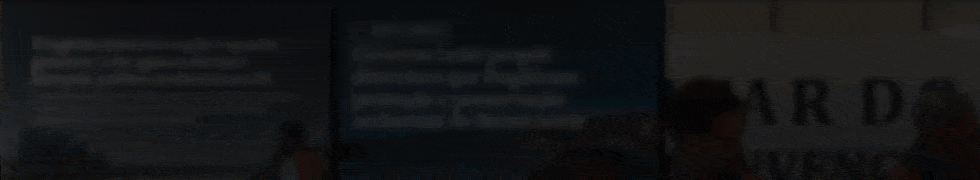Elaine Milmann, Cláudia Bechara Fröhlich, Isadora Machado da Silva, Isabela Andrade Bahima e Simone Moschen (*)
Mal se passaram dois anos da pandemia de coronavírus e estamos no epicentro de uma crise climática, política, econômica, social mundial que ganhou destaque nas enchentes de maio de 2024, ocorridas no sul do Brasil. Uma fenda, difícil de cicatrizar, foi aberta na sequência desses dois eventos que coloca(ra)m em risco o nosso habitat e a nossa existência no planeta. Por semanas, com muitas ruas e casas mergulhadas em lama, assistimos a um movimento coletivo de cooperação e acolhimento às vítimas por todo o estado.
A fenda, ferida ainda exposta, tem diferentes profundidades, conforme a vulnerabilidade de cada pessoa e comunidade diante de uma enchente que inundou milhares de casas, destruiu cidades e ceifou vidas. Nesse tempo de desastre(s), a UFRGS, cumprido a responsabilidade social que lhe caracteriza, esteve à frente de muitas das ações que buscaram minimizar os efeitos da catástrofe. O “Tocando o Barco: um Abrigo para a Palavra”, aconteceu como ação de extensão do Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura (NUPPEC_eixo2) junto a um dos muitos abrigos que acolheram mulheres e crianças na cidade de Porto Alegre.
Este abrigo temporário foi construído através da articulação do Círculo de Pais e Mestres (CPM) da escola que foi sua sede e se ergueu, por iniciativas populares e pelo apoio de uma ONG. Testemunhamos de que modo este lugar, não por acaso uma escola pública, viveu uma experiência coletiva e democrática na urgência do abrigar. Tomar parte desta experiência recolocou questões que nos acompanham desde a pandemia do COVID 19: da pergunta sobre o que é a escola e qual o papel docente na atualidade, fomos levadas a nos indagar, diante da urgência do agora, em tempos de emergência climática, o que pode vir a ser a escola pública entre o abrigar e o educar?
Com o objetivo de construir um espaço de escuta junto às abrigadas e seus(as) filhos (as), e de testemunho da organização do abrigo em uma escola pública, vivenciamos, de perto, como se abrigaram algumas das milhares de vítimas que se fizeram nas águas turbulentas de maio. Éramos quatro, duas licenciandas do curso de ciências biológicas e duas pesquisadoras de longa data no NUPPEC/UFRGS. Ao dar contorno ao vivido, no ir e vir da escola nas tardes de segundas-feiras, buscamos abrigar as palavras e os diferentes modos de como contar uma história sobre a enchente. Na travessia desta escuta, buscamos algumas relações entre ABRIGAR e EDUCAR, pensando no que pode ser o por vir da escola diante da urgência que vivemos. Qual a função do educar diante de um mundo que vive cada vez mais catástrofes climáticas que desestabilizam certezas e nos colocam diante da resposta da natureza às ameaças sofridas nos últimos séculos? Qual o lugar docente diante disso tudo? Ou, como diz a escritora Carola Saavedra, no livro O mundo desdobrável – ensaios para depois do fim: num mundo cada vez mais incerto, mais irreal, como abordar a realidade? E como sonhar um mundo possível em que todos possam habitar? E, ainda, na companhia de Krenak, como abordar a fantasia e cultivar “sonhos para adiar o fim do mundo”?
Nossos anos de pesquisa tem nos levado a propor a ficção como um modo de (a)bordar a realidade, especialmente quando ela se faz excessiva. Foi assim também no abrigo. Lá propomos oficinas, inventadas a partir da escuta inicial de participantes do local e das palavras que circulavam entre eles: oficina de construção de barcos de papel e oficina de elaboração de cartas.
Neste tempo, enquanto fazíamos barcos e cartas junto às crianças, as mães, ao redor, contavam momentos vividos durante a enchente. Já as crianças, pediam mais, e propunham brincadeiras em que reviviam perdas, cenas que desejavam um início, meio e, principalmente, um fim. Todos ali – mães, crianças e nós-, em diferentes camadas e por diferentes modos, fizemos tentativas de fazer cicatriz pelas dobras da linguagem. O trauma coletivo tem disso, precisa ser falado por muitas vozes, por muitas vezes, de diferentes formas… e não dispensa o estar juntes! Nestes encontros, a proposta de um fazer – a muitas mãos e diversas vozes – foi um convite ao encontro com a diferença e à possibilidade de escuta do outro. O abrigo-escola e a sua dobra, a escola-abrigo, se desdobraram para o acolhimento das diferentes formas de expressão e representação…
Sabemos da importância de que a escola se mantenha como um lugar outro em relação ao da família; um território no qual o conhecimento, a ciência e o convívio com o coletivo trabalhem para dar forma à vida. Aliás, descobre-se, e da pior forma, que a escola é a vida! Embora a escola não coincida com a casa, ainda que sejam espaços que precisam conservar suas diferenças, os espaços educativos demonstraram seu talento para acolher e escutar. Neste estranho compasso dos tempos vividos, nos demos conta de que os calendários dos espaços educativos, antes fixos, já não fazem parte da realidade de um mundo que enfrenta, com maior regularidade, calamidades nas quais, os(as) mais vulneráveis são sempre os(as) mais atingidos(as), em especial estudantes e familiares que frequentam as redes públicas de educação.
Em nossa casa, a cidade de Porto Alegre, e nas vizinhanças, vimos o despertar de um sentimento de comunidade em que muitas, muitas pessoas doaram e se doaram para salvar vidas, num movimento nunca antes visto, e que, provavelmente, fez com que um dos meninos no abrigo, fizesse duas bandeiras para seu barquinho, a do Inter e a do Grêmio, ambas unidas pela dobra do papel, acentuando a importância da cooperação para se possa tocar o barco.
A escola pública tem sido, em nosso contexto, e há muito tempo, local onde crianças são cuidadas, acolhidas diante da vulnerabilidade e das variadas violências de nossa sociedade, sendo também, um lugar de alimentação e de cuidados. Neste tempo-espaço aberto por ela na forma de abrigo, escutamos histórias difíceis, e encontramos pessoas da comunidade escolar capazes de escutar essas narrativas até o fim, sem irem embora, suportando a dor do outro, fazendo-se suporte para que ela encontrasse a condição de ser dita. Aliás, quem chega no abrigo é chamado de sor, profe, apelidos carinhosos, por certo, mas também índice de que se supõe muito neste lugar docente, que ele tem relevo especial quando a questão é o cuidado e o cultivo da relação. E não seriam esses os afetos necessários ao retorno às aulas, na medida que os prédios, trabalhadores/as e estudantes se recuperem e um novo calendário escolar seja colocado?
Para além dos conteúdos programáticos, é necessário subverter a lógica da individualidade e da produtividade que move muitas propostas educacionais, formando cidadãos que possam abordar um mundo que já quase não é, pois está em acelerada transformação.
Muitos docentes com quem falamos no mês maio e junho também foram desalojados de suas casas, de seu fazer na escola, e muitos deles(as) estão/estavam se voluntariando em diversos turnos de trabalho em abrigos que não eram necessariamente a sua escola de trabalho cotidiano. Impossível não associarmos o papel docente na atualidade a um convite a olhar intensamente para o presente (e cuidá-lo) com vistas a libertar o futuro de catástrofes. Num texto chamado “Os professores depois da pandemia”, António Nóvoa, em companhia de Yara Alvim, dizem que os(as) professores(as) deveriam existir para alargar as possibilidades de futuro, para abrir caminhos e mudar destinos, mas que, para isso, é necessário oferecer as condições que lhes permitam afirmar a sua posição no plano profissional e no plano público. A escola é, acima de tudo, um lugar que se constrói com a comunidade e nos aponta para uma ética de como viver juntes, um território de construção de um por vir a que nunca se teria chegado se tivéssemos ficado em ‘casa’.
Na fenda/vão que se abriu no encontro entre o verbo ABRIGAR e EDUCAR, ressaltamos a importância e presença incansável dos(as) docentes no enfrentamento das enchentes por um lado, e a responsabilidade, já assumida por muitos, para a construção de uma educação para a crise climática, por outro. Não se trata de decretar o fim da escola, como muitas políticas liberais têm feito ressoar. Pelo contrário, sublinhamos a importância do espaço da escola que, enquanto pública, deve manter como fim uma poética humanizadora… que estabelece, no cotidiano de seu trabalho, as condições de possibilidade para a transmissão da escuta do outro, dos rios, e de toda a vida que pulsa e tem exigido um olhar atento. A constituição de uma ética do educar-abrigar baseada nos pilares da sustentabilidade, preservação e cooperação, precisam fundamentar nossos projetos e ações para que convirjam para um mundo com a possibilidade de todos, todas e todes habitarem. Como realizar as transformações? Comecemos pelo acolhimento, o abrigo às palavras, às histórias e aos traumas no retorno às aulas!
(*) Sobre as autoras:
Elaine Milmann é Educadora Especial e Psicopedagoga.
Cláudia Bechara Fröhlich é Professora no Departamento de Estudos Básicos da Faculdade de Educação (UFRGS).
Isadora Machado da Silva é Graduanda em Ciências Biológicas. Iniciação Científica (LEVCamp – Departamento de Botânica UFRGS). Extensionista no Projeto ISSO Existe: Histórias de Educação (UFRGS).
Isabela Andrade Bahima é Graduanda em Ciências Biológicas (UFRGS). Iniciação Científica (LabLep – Departamento de Zoologia UFRGS). Extensionista no Projeto Física (ciência) Na Escola (UFRGS).
Simone Moschen é Professora no Instituto de Psicologia, Serviço Social, Saúde e Comunicação Humana (UFRGS), no Pós-Graduação em Psicanálise: Clínica e Cultura (UFRGS) e no Pós-Graduação em Educação (UFRGS).
§§§
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.