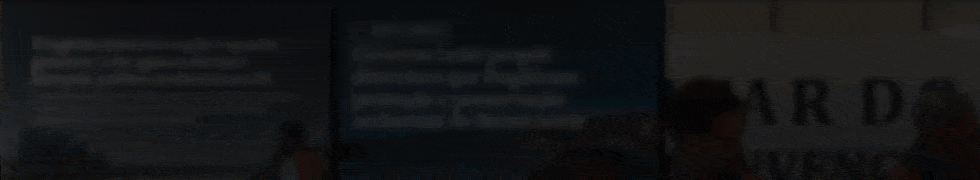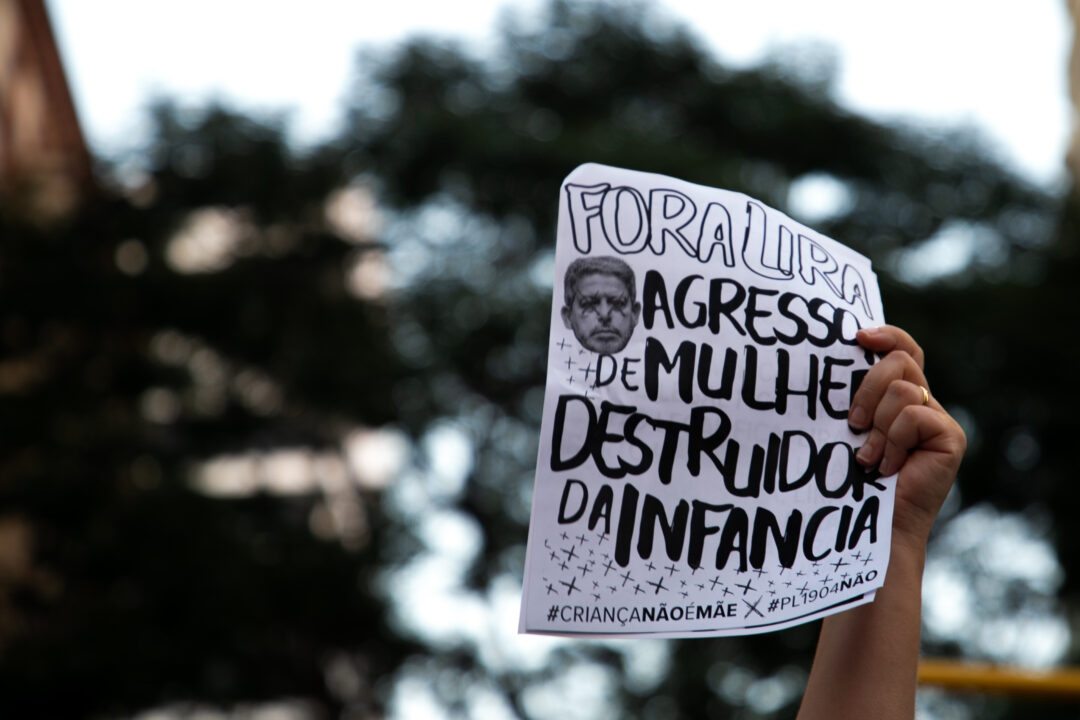Roberta Medina, Ana Clara Santos Eslebão e Manoel Alves Jr. (*)
As enchentes que já impactaram mais de 2 milhões de pessoas no estado do Rio Grande do Sul neste ano não são apenas consequência de um desastre natural inesperado. O elevado volume de chuvas que resultou em inundações nas bacias hidrográficas de todo o estado decorre de uma combinação entre fenômenos naturais extremos e diferentes camadas de expressão de negacionismo climático e descaso com a questão ambiental, o que faz da tragédia um desastre eminentemente político. O modelo de gestão neoliberal do Estado — que vem se consolidando como conjunto de práticas políticas privilegiadas em todo globo — é responsável pela série de medidas dos executivos e legislativos em âmbito municipal, estadual e federal que contribuíram direta ou indiretamente para que as inundações no estado gaúcho produzissem tais efeitos de devastação.
Mas se as escolhas políticas anteriores ao desastre revelam a realização de um projeto negacionista e extrativista de destruição e descaso com a vida, a gestão da crise durante os dias de catástrofe e as políticas sugeridas para lidar com ela no médio e longo prazo demonstram que esse projeto é mais bem articulado do que podemos imaginar. O desastre escancara — mais uma vez após o acontecimento traumático da pandemia — que governos e classe empresarial veem na situação continuada de crise não mais que sucessivas oportunidades de levar a cabo a realização desse projeto político baseado na exploração do trabalho e das riquezas naturais, no aumento das desigualdades sociais, e na mutação constante dos modos de produção de obediência e controle das populações, frequentemente, lançando mão de estratégias militarizadas, em benefício de seus próprios interesses.
Durante os dias que se seguiram após a tragédia, pudemos ver com clareza o tamanho do incontornável problema – diante do descaso e despreparo do poder público, fica evidente que a rede comum de solidariedade e doações formada por voluntários não será capaz de lidar com o trabalho necessário nos abrigos e na reconstrução da cidade a médio e longo prazo. Ao adentrarmos a quinta semana da catástrofe climática na capital, com o pouco de energia e fôlego restantes para acompanhar os últimos desdobramentos, fica evidente que as propostas de gestão dos abrigos, de realocação dos refugiados climáticos, e de reconstrução material que lhes permita recuperar uma vida digna seguem a racionalidade neoliberal, criminalizadora e militarista por consequência direta do emprego da Polícia Militar.
No caso das enchentes que acometeram o extremo Sul do país, não só o negacionismo climático, mas também a despolitização da tragédia e a policialização dos conflitos que impactam as populações desabrigadas são processos de aumento da precarização da vida e da produção desigual de violências. A criação de territórios marginalizados a partir da migração climática forçada se apresenta como uma oportunidade para o aumento das clivagens sociais e políticas cujas consequências ainda são previsíveis e nos colocam em estado de alerta. Propostas descreditadas por especialistas para “resolver” os problemas causados pelas enchentes; a contratação de uma empresa de consultoria que capitaliza com desastres naturais; a formação de agrupamentos armados de segurança informais; e as propostas de criação de “cidades provisórias”, são problemas os quais a população gaúcha está implicada.
Nesse contexto, o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB), propôs em 13 de maio, a criação das até então chamadas “cidades provisórias”, posteriormente batizadas de “Centros Humanitários de Acolhimento” (CHA) — nome dado a pequenos territórios onde serão construídas não só moradias mas como espaços de convivência, área de assistência médica, abrigos para animais domésticos entre outras propostas. Chama atenção o fato de que, no primeiro momento, Melo sugeriu que a gestão destes territórios fosse feita pelas Forças Armadas (FA) a partir da decretação de operação para garantia da lei e da ordem (GLO), ideia que até o momento não foi acatada, embora não tenha sido totalmente descartada. Contudo, conforme divulgado na última quinta-feira (06), a administração ficará a cargo da Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a segurança a cargo da Polícia Militar do RS, garantindo assim que parte significativa da organização e controle da vida cotidiana nos CHA seja feita militarmente, assim como ocorre nas estratégias de pacificação de territórios, a exemplo, das UPPs. Não causa estranhamento a afirmação da prefeitura de Porto Alegre de que a ideia de criação destas “cidades provisórias” foi inspirada em respostas dadas a tragédias como a ocorrida nas cidades serranas do Rio de Janeiro em 2011.
O projeto de criação de “cidades provisórias” também foi levado adiante pelo governo do estado, na figura de Eduardo Leite (PSDB), que firmou contrato com o Sistema Fecomércio para a contratação da empresa que vai erguer as estruturas das moradias nos próximos 20 dias. A estrutura das residências é de modelo idêntico ao que foi usado em desastres como o terremoto que devastou o Haiti em 2010. O Fecomércio também viabilizou a gestão dos territórios por parte da Organização Internacional para as Migrações (OIM) e do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), integrantes da rede da Organização das Nações Unidas (ONU). Em Porto Alegre, a estrutura será montada no complexo cultural do Porto Seco, localizado na região norte da capital, em um território historicamente abandonado pelos poderes públicos e bastante afastado do centro da capital.
As condições estruturais e geográficas que estão sendo pensadas para a criação dos CHA, dadas as insuficiências e precariedades denunciadas, acabam por aproximá-los mais da materialização de um campo de refugiados — com isolamento geográfico e policiamento militarizado integral —, do que de uma “cidade”, como outrora foram chamados. Além disso, podemos facilmente perceber que estes locais favorecerão a remarginalização de parcelas vulnerabilizadas da população que são, em grande medida, aquelas pessoas que não têm perspectiva de retorno às suas residências, e que correm o risco de permanecerem nesses espaços de forma definitiva, provocando o aparecimento de novas favelas.
A exemplo do que ocorreu no Rio de Janeiro com a criação e implementação das UPPS, o controle policial e militarizado desses territórios em Porto Alegre deve servir como vitrine e laboratório para exportação de modelos de controle territorial com o objetivo anunciado de atrair investimentos de capital estrangeiro para aquela localidade, supostamente trazendo melhorias sociais para aqueles que lá residem. Vale lembrar, contudo, que, no Rio, as promessas de investimentos comunitários após a pacificação, a chamada UPP Social, nunca chegaram. A estratégia se resumiu em conquista territorial, sufocamento do cotidiano da população, violência policial e corrupção. A experiência do Rio de Janeiro ensina que o controle territorial, e o isolamento ou a expulsão de comunidades inteiras é uma estratégia política que, quando evocada como modo de gestão da crise, costuma beneficiar a projetos de gentrificação e aprofundar a lógicas de mercado, impondo custos altíssimos à população já vulnerabilizada dos territórios afetados.
De modo similar, a experiência de Nova Orleans após a passagem do furacão Katrina em 2005 mostrou que são as populações mais pobres e vulnerabilizadas que enfrentam o fardo do deslocamento forçado, da perda de vínculo comunitário, da criminalização e da fragilização de direitos, sendo reconduzidas a uma condição marginal. O furacão, que matou mais de 1.800 pessoas, deixou outras 250 mil desabrigadas, à deriva do modelo de gestão neoliberal privatista que determinou os rumos da crise. No caso do estado gaúcho, com efeito, dados do censo demonstram que cerca de 40% do contingente de desabrigados é composto por pessoas migrantes, contando ainda com a presença expressiva de populações quilombolas e indígenas.
Outra semelhança que liga a experiência de Nova Orleans à Porto Alegre é a contratação da Alvarez & Marsal para prestação de consultorias de “gestão de crise”. A empresa, que deixou um rastro de destruição neoliberal em Nova Orleans e que também atuou no Brasil após o desastre de brumadinho, é conhecida por capitalizar com eventos naturais extremos e utilizá-los como janela de oportunidade para a implementação de medidas neoliberais que encontrariam resistência em outros contextos — assim operando o chamado capitalismo de desastres conceituado por Naomi Klein [1], que privilegia interesses do setor privado em detrimento da garantia de condições dignas de vida para as populações afetadas.
Não por acaso, desde o início das inundações alguns paralelos com a catástrofe após o Katrina têm sido traçados. Dentre os paralelos, destacamos, para além do negacionismo, i) a falta de investimento adequado para evitar – ou minimizar – os danos causados por eventos climáticos extremos; ii) a morosidade para responder adequadamente ao risco iminente, como determinar evacuação e colocar em prática os protocolos emergências, quando existentes; iii) a maior concentração de investimento de recursos para a “segurança” (no caso dos EUA, a guerra ao terror); e iv) a primazia da resposta militarizada em detrimento de iniciativas públicas não violentas que pudessem conter os saques e outras manifestações de violência ocasionadas pela crise.
O exemplo de Nova Orleans é bastante ilustrativo desse processo. Após a passagem do furacão, a cidade perdeu cerca de 200 mil habitantes. O distrito histórico, onde residiam majoritariamente negros e pobres, foi remodelado para favorecer interesses comerciais, resultando em preços inacessíveis para os moradores originais que acabaram por afastá-los do centro urbano. Além disso, a cidade viu crescer o número de homicídios, furtos e roubo de veículos [2], chegando a apresentar indicadores de violência mais graves que grandes metrópoles brasileiras [3]. Como resposta, foi implementada uma política criminal desastrosa, reforçando as dinâmicas de violência naquele território.
No caso dos CHA no Rio Grande do Sul, alguns pontos devem ser levantados. Inicialmente, não se discute a importância de garantir que as famílias desabrigadas estejam em segurança — alimentar, financeira e psíquica. Isso implica reconhecer a necessidade de investimentos em políticas públicas de habitação, empregabilidade e viabilidade financeira, visando garantir condições dignas de vida às pessoas afetadas pelas enchentes. Contudo, é importante ter em mente que a semântica da segurança tende a ser reduzida à “segurança física”, supostamente garantida pelas armas e coturnos da PM. Sendo esses corpos “segurados”, os alvos preferenciais da polícia, que tem no pobre, negro e migrante a personificação do inimigo, vemos nascer junto a esse projeto um experimento que pode ter sérias consequências locais, correndo o risco de se transformar em uma política de controle replicada em outras regiões do país em situações similares.
Os conflitos gerados pela escassez ou pela falta de políticas públicas não devem ser prioritariamente uma questão de polícia ou requerer respostas militarizadas, sobretudo porque a polícia do estado do Rio Grande do Sul, que coleciona denúncias de abuso do uso da força, execução, corrupção e racismo, já demonstrou que não têm capacidade de compreender as diversas situações de vulnerabilidade social que se apresentam num contexto extremo como este [4]. Ademais, o que as experiências anteriores demonstram é que a militarização dos conflitos, aliada à gentrificação veio somente a reforçar dinâmicas de marginalização e violência urbana, resultando em mortes, processos de criminalização e maximização do uso de tecnologias de vigilância — além de contribuir para a consolidação de interesses privados com fins lucrativos, como a especulação imobiliária e o endividamento coletivo via linhas de crédito de fácil adesão com juros abusivos, por exemplo.
Além disso, não podemos ignorar também que a possibilidade da decretação de uma GLO ainda é um tema em aberto e defendido por nomes decisivos no poder público, pelo menos em âmbito Municipal e Federal [5]. Se o deslocamento das pessoas para uma região periférica da cidade já suscita temores de uma “nova segregação” periférica, o problema se torna ainda mais complexo com a pretensão de um decreto de GLO, que tornaria as Forças Armadas responsáveis não apenas pela gestão dos CHA, mas pelo policiamento na capital gaúcha.
Nossas experiências anteriores com as operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) mostram que seu objetivo último é a “pacificação”, ou seja, a violenta tentativa de aplacar os conflitos sociais sem resolvê-los: prioriza-se o fortalecimento dos dispositivos de controle e das estruturas econômicas em detrimento da melhoria da qualidade de vida da população. A narrativa salvacionista da estabilização da crise, contudo, espelha a mesma que no Brasil colonial buscou “pacificar” o conflito com as comunidades indígenas e então gerir e tutelar seus territórios e populações [6]. O esgotamento da imaginação política no Brasil e a insistência nas velhas fórmulas com novas roupagens como resposta padrão para todos os problemas não apenas nos tornam apáticos diante do inaceitável, mas também nos afastam da capacidade crítica e da coragem de tornar visível o que é tão evidente que não somos capazes de enxergar.
Nossa falta de memória ativa em relação a esse passado colonial é a mesma que olvida os efeitos da ditadura empresarial-militar e a ausência de um acerto de contas posterior a ela. Esse esquecimento sistemático como dispositivo, não cessa de reorganizar, redistribuir e reterritorializar a violência policial e militar no Brasil. Portanto, não podemos nos deixar enganar pelo caráter ‘excepcional’ do desastre climático como justificativa para essa ofensiva. É preciso reconhecer que práticas de militarização dos conflitos e decretos de operações GLO funcionam como política de segurança pública de Estado no Brasil, expressão do modo de gestão militarizada da vida que nos torna laboratório de regulação social armada [7], produto final de um militarismo extremo e eterno experimento de “pacificação”.
Essa realidade escancarada reforça a urgência de formularmos contraposições populares ao aumento da militarização da vida cotidiana, invariavelmente aprofundada nos “gerenciamentos de crise”. Diante da necessidade de reestruturar a vida de milhares de pessoas, a situação de calamidade em que nos encontramos recoloca novamente a questão de pensarmos sobre qual vida queremos viver. Nesse contexto, a nada nova questão da moradia emerge no centro do debate político em sua realidade radicalmente material, colocando novamente a disputa pela vida que queremos e podemos construir como horizonte de possibilidades.
A mobilização de Vereadores de oposição na Câmara Municipal de Porto Alegre – em especial a bancada negra composta por Matheus Gomes (PSOL), Karen Santos (PSOL), Daiana Santos (PT), Laura Sito (PT) e Bruna Rodrigues (PCdoB) – para destinar imóveis vazios na capital gaúcha à moradia para desabrigados é um bom exemplo de como garantir condições de vida digna às pessoas diretamente atingidas pelas enchentes. De acordo com o Observatório das Metrópoles, o número de imóveis vazios de Porto Alegre é três vezes maior que demanda de moradia para desabrigados. A ocupação desses imóveis é um debate necessário no tema da questão urbana, uma vez que vazios habitacionais são comuns nas capitais brasileiras.
No âmbito dos movimentos sociais e populares, essa parece já ser uma questão em disputa. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) ocupou no último sábado um prédio público há décadas abandonado, localizado no centro de Porto Alegre, ao lado do Mercado Público. A ocupação foi batizada de Ocupação Maria da Conceição Tavares, em homenagem à economista que faleceu na mesma data, aos 94 anos. O movimento, que historicamente sofre com ofensivas e repressōes policiais, corporifica o potencial da organização coletiva e popular desde o início da crise, seja com operações de resgate, fortalecimento de cozinhas solidárias e distribuição de marmitas, e, agora, reivindicando a demanda por moradia digna como questão política central. Em tempos de “fim de mundo”, e em profunda consonância com o legado da professora Maria da Conceição, o MTST nos relembra que a luta coletiva por justiça social é o único horizonte capaz de nos levar a um futuro vivível, justo e digno para todos.
Notas
[1] Naomi, K. L. E. I. N. (2007). A doutrina do choque: ascensão do capitalismo de desastre. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.
[2] 3% a mais nos roubos e a um aumento de 4,1% no roubo de veículos.
[3] No ano de 2006, a taxa de homicídios chegou a 96 para cada 100 mil habitantes.
[4] Não nos faltariam exemplos, mas talvez o acontecimento mais midiatizado recentemente tenha sido a prisão de um homem negro, feita por policiais da Brigada Militar do RS, após ter sido vítima de agressão
[5] Importa mencionar que a edição de uma GLO dificilmente encontraria resistência no Executivo Federal, considerando que o Ministro da Defesa, José Múcio, durante entrevista dada ao canal UOL, mostrou-se um entusiasta da ideia.
[6] OLIVEIRA, João Pacheco de. Pacificação e tutela militar na gestão de territórios e populações. Mana, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 125-161, abr. 2014, p. 127.
[7] BRITO, Felipe; VILLAR, André; BLANK, Javier. Será guerra?. In: BRITO, Felipe; OLIVEIRA, Pedro Rocha de (orgs.). Até o último homem: visões cariocas da administração armada da vida social. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2013.
Roberta da Silva Medina – Doutoranda em Socio-legal Studies pela York University/Canadá e Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS.
Ana Clara Santos Elesbão – Doutoranda e Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS.
***
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.