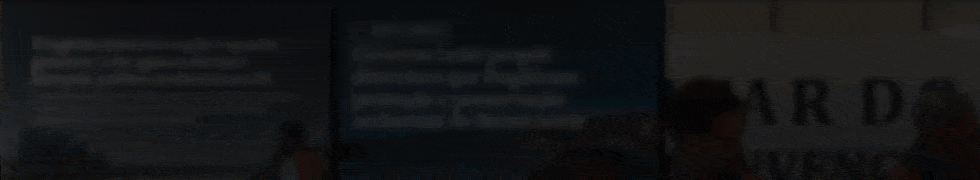Jorge Barcellos (*)
“Justificar tragédias como “vontade divina” tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas”. (Umberto Eco)
“Melo afogou nossa gente” (frase escrita em quatro containers de lixo junto a Usina do Trabalho)
Há cinquenta anos, a obra A nova Idade Média (Alianza Editorial, 1974) perguntava se não estava em andamento um retrocesso civilizacional que podia ser visto na dissolução dos vínculos sociais, na privatização do poder e na volta de conflitos sangrentos entre diversos grupos, que faria uma atualização às avessas das previsões de Orwell e Huxley. Os artigos de Umberto Eco, Furio Colombo, Francesco Alberoni e Giuseppe Sacco perguntavam se estávamos não caminhando para um novo futuro, mas ao contrário, voltando para nosso próprio passado. O tema permanece atual porque em Porto Alegre há signos da medievalidade por todo o lugar. Perto de onde moro, no Bairro Petrópolis, existem um número grande de conjuntos habitacionais que se apresentam como enclaves fechados, com altos muros e técnicas sofisticadas de arquitetura e vigilância. Posso ver suas câmeras me vigiando quando passo por suas muralhas que tem como objetivo proteger seus cidadãos de mim, como se eu fosse uma ameaça. Esses conjuntos são mais da velha tática da segregação espacial, combinação de sedução e segurança que os estudiosos afirmam não estarem distantes dos enclaves medievais ou das cidades autônomas de que nos fala o historiador Henri Pirenne (1862-935) em seu clássico As cidades da Idade Média que li no curso de história da UFRGS. Em tais enclaves, o que vale é a liberdade que se pode gozar sem medo do mundo externo, ou seja, de nós. Por outro lado, a cultura digital já presente na capital também anuncia uma nova Idade Média. Esta é a tese de James Blidle, em seu A nova idade das trevas: a tecnologia e o fim do futuro (Todavia, 2019): para ele, com a digitalização, estamos perdidos em um mar de informações. Como na Idade Média, a consequência é que emergem narrativas simplistas e tecnologias conspiratórias que facilitam o exercício do controle do estado neoliberal, que ocupa o lugar do governante do passado. Vi nas redes sociais pessoas arriscando-se para fazer vídeos que chamavam mais a atenção do que o fato do governador Eduardo Leite assinar com o SESI convênio para recuperação de escolas, o que é outra forma de exercer o controle para passar a boiada da privatização da educação durante a tragédia. O que é antigo e o que é moderno nisso tudo?
Porque a enchente medievaliza a capital? Porque ela evoca mais uma vez os nossos medos. Dois autores são clássicos no tema, além, é claro, de Henri Pirenne. O primeiro é Jean Delumeau, que em A história do medo no Ocidente (Cia das Letras, 2009), mostrou que não apenas os indivíduos, mas as coletividades sentem medo, seja da natureza, do mar, das trevas, da peste, da fome, da bruxaria e do apocalipse. Que a enchente evoque novamente tais figuras é uma prova da permanência da mentalidade medieval entre nós. O segundo é Yi-Fu Tuan, que em Paisagens do medo (Unesp, 2005), atualiza o sentimento em suas manifestações, sem antes deixar de fazer novamente, uma passagem pelo passado. Ele afirma que no passado, os ciclos naturais podiam ruir e cabia aos governantes e aos rituais a correção dos desvios do tempo. Quando a enchente chegou em Porto Alegre, os cidadãos sentiram muito medo. De que? De perder tudo o que tem, tudo o que conquistaram, como de fato aconteceu com muitos. Passados os primeiros dias, o medo se realizou. Moradores tiveram de sair de suas casas, pois se o medo de perder suas coisas existe, o medo de perder a vida é maior. Cidadãos desabrigados passaram a exigir medidas das autoridades, o Estado ritualiza a tragédia, organiza sua ação para dar condições de vida. Mas o que restou também foram “paisagens de medo”: o centro escuro do centro da cidade, as ruas tomadas por água e caminho livre para os ladrões. Em um abrigo público explode a violência na terça-feira, dia 28 de junho. Um roubo de celular se transforma em confusão. A Brigada Militar é chamada, o lugar isolado.
O capítulo escrito por Umberto Eco intitulado A Idade Média já começou, inicia com a tese que Roberto Vacca defendeu em seu A próxima Idade Média (Pallas, 1975), a da constatação da degradação dos grandes sistemas da era tecnológica “que, demasiado vastos e complexos como para que uma autoridade central possa controlá-los e inclusive para que possa fazê-lo individualmente um aparato de administração eficaz, estão destinado ao colapso e consequência de sua interdependência recíproca, a produzir um retrocesso de toda a civilização industrial “. Eco descreve o cenário de um futuro próximo de Vacca como apocalíptico, que mais se parece com um filme catástrofe, uma mistura de Mad Max com Guerra Mundial Z, onde nada mais vai restar do que comunidades monásticas do tipo medieval frente a decadência e para o autor de O Nome da Rosa, se trata de se colocar a questão central de que “se trata sobre tudo de decidir se o que Vacca descreve é um cenário apocalíptico ou exagero de algo que já existe”. Eco faz a pergunta, primeiro porque deseja liberar o conceito de Idade Média pela qual é apaixonado da aura negativa deixada pelos publicitários de inspiração renascentista. E em segundo lugar – ele só deixa transpassar isso ao longo do texto – pelo fato de que entende que existe uma notável paralelo entre a Idade Média e a época contemporânea, a começar pela imensa sensação de insegurança que nos cerca.
É que, a rigor, existem duas idades médias: a primeira, que vai da queda do império romano no Ocidente (473d.c) até o ano mil; e a segunda, que vai até 1453, com a queda de Constantinopla. A primeira, a Alta Idade Média, é uma época de crise, decadência, de assentamento dos primeiros povos, violência e choque de culturas; a segunda, a Baixa Idade Média, é uma época de humanismo, auge do feudalismo e quando aparecem as primeiras transformações do renascimento comercial e urbano, daí o fato de que para alguns historiadores incluírem como renascimento carolíngio o período que vai do século XI e XII. Eco enumera características que distinguem nossa época do período medieval: nossos processos são acelerados, o que acontece hoje em cinco anos poderia levar cinco séculos; o centro do mundo se ampliou e temos populações vivendo em diferentes níveis, inclusive em condições medievais ainda no planeta. Por isso, frisa, “em caso de haver um paralelo, deve-se estabelecer entre alguns momentos e situações de nossa civilização planetária e momentos diferentes de um processo histórico que vai do século V ao XIII da era medieval”. Dizer-se medieval, é assim, um recurso para dar uma imagem de nossa época.
Eco propõe, portanto, a “hipótese da Idade Média” como um modelo que permite perceber tendências de situações de nossa época e pergunta: o “que falta para construir uma boa idade média”? Para ele, em primeiro lugar, uma Grande Paz, que se revela por algo que unifica o mundo quanto a língua, costumes, ideologia, religião, arte e tecnologia e que, num determinado momento, seja derrubada. Eco lembra que no passado é o Império Romano que sofreu pressões internas e externas quando foi derrubado. Aqui, não tenho dúvida de que a Grande Paz de que fala Eco é a ideia de que a política neoliberal é o único mundo possível para proteger a tudo e a todos que cai frente ao primeiro evento climático extremo. É notável que o exemplo alinha-se ao pensamento de Eco porque, a axiomática do capital é, de fato, o que unifica nossa língua, costumes, ideologia, religião arte e tecnologia: preferimos a meritocracia do que lutar pelo comum, a ideologia do dinheiro que transforma tudo em mercadoria e media as relações pessoais e a produção cultural. O próprio mecanismo de êxito das novas tecnologias, através da informação, a transforma na base que alimenta nosso próprio inconsciente. Pensávamos que um mundo onde o mercado é o guia fosse um mundo em paz. Foi necessária uma enchente para mostrar que os cidadãos não são protegidos pelo seu Estado. Porque? Porque é um estado mínimo, um estado neoliberal. Em nossa época, o Estado é um agente do capital: num estado deste tipo, apenas as elites são protegidas. Os bárbaros já estavam no Estado e não sabíamos. Não foi barbara, isto é, violenta, a constatação de que não havia manutenção dos sistemas de proteção? Não é violenta a reação dos moradores abandonados a sua própria sorte na região norte da capital? Descobrimos que todo o caos que se gerou no estado e em Porto Alegre não se deveu apenas a invasão das águas, mas por processos, omissões, decisões, políticas implementadas que tinham como o objetivo, como alerta Céli Pinto em Precisamos de mais Estado (Sul21, 28.5.2024), de entregar a cidade e o estado ao capital.
Como no Império Romano, o que está por detrás de nossa queda é mais uma vez o Neoliberalismo. É ele que agudiza o caos climático vivido no estado, que o havia minado por dentro ao defender um estado mínimo, ao reduzir a máquina pública, o que se tornou catastrófico, no momento da enchente, a diferença entre cidadãos e não cidadãos, exatamente como apareceu também esta diferença durante a queda do Império Romano. Com a enchente, vimos as diferenças entre ricos e pobres, como no passado viu-se as diferenças entre patrícios e plebeus; vimos a manutenção da divisão de riquezas que favoreceram empresários em empreendimentos – hoje já se discute o Estado pagar pelos prejuízos da enchente a Fraport como no passado grandes proprietários eram beneficiados pelos favores do Império. Nos dois momentos, no passado como no presente, são sempre colocados no poder os “homens de partido”: se no passado, bárbaros, julgados de “raças inferiores”, chegaram ao poder, hoje, ao menos nos últimos vinte anos, ocuparam este lugar os mesmos que foram responsáveis pelo abandono de nosso sistema de proteção. Não nos enganemos: os novos bárbaros são os governantes neoliberais.
Mas assim como o colapso da Grande Pax militar, civil, social e cultural existente às vésperas das invasões bárbaras abriu um período de crise econômica, ela também foi de grande vitalidade. Eco diz que a ideia de Era de Trevas não se justifica “a Alta Idade Média foi uma época de incrível vitalidade cultural, de diálogos apaixonantes entre as civilizações bárbaras, a herança romana e as sementes cristão orientais, de viagens e encontros, com monges irlandeses que atravessam a Europa difundido ideias, promovendo leituras, inventando loucuras de todas as classes”. Nesse sentido, a crise econômica vivida em Porto Alegre e no estado pode ser considerada de grande vitalidade? Sim! mas para quem? Para o próprio capital! Não é o que vimos com a reorganização do sistema aéreo, agora relegado ao aeroporto militar de Canoas, onde um reduzido número de voos agora tem agora um preço muito maior que o anterior? Não é o caso dos bancos ansiosos pelos novos pedidos de financiamento para reconstrução de tudo o que foi perdido com a enchente? Vamos, alegria, a tragédia é um ótimo negócio! Diz Eco: “o modelo de uma Idade Média pode servirmos para compreender o que está acontecendo em nossos dias: a ruína de uma grande paz se sucede uma crise e insegurança, choque de civilizações diferentes e se foi deixando lentamente a imagem de um homem novo.” Qual é o nosso “homem novo” que está em crise: a do homem neoliberal, das mãos do mercado e livre do estado. Sem estado, as classes populares descobrem que são abandonadas a sua própria sorte.
Quem são os novos bárbaros, pergunta Eco? O termo recebeu ao longo do tempo uma conotação negativa relacionada aos povos que ocuparam e invadiram os impérios antigos. Eco diz que é difícil dizer hoje, quer dizer, nos anos 70 quando escreve seu texto, se seriam aplicados para os chineses e povos do Terceiro Mundo. Mas Eco faz uma ressalva sugestiva de que, se no passado, quem estava desaparecendo era o “romano de antigas virtudes”, para ele “de igual forma, hoje está desaparecendo o “homem liberal”, empresário de língua anglo-saxã” É que para Eco, em primeiro lugar, a geração desse executivo já contrastava com a de seus próprios filhos, a geração unifamiliar liberal já era distinta entre si, tinham valores diferentes. Em segundo lugar, já seria uma sociedade neomedieval porque nela as autoridades já governam sem estarem de fato assentadas em bases democráticas “o que revela aberta e imprevisivelmente o caráter acessório das instituições”. Eco se refere a certo centralismo autoritário, típico da era medieval, que podia ser visto agora nas atitudes dos governantes que agem na enchente independente do que pensam técnicos, do que dizem sucessivos programas contra as cheias, tomando decisões que descobrem errôneas para logo voltarem atrás – não foi assim com as de terminação de jogar o lixo na rua? Esse improviso, pedindo emprestados equipamentos que já deveriam ter sido comprados pelos órgãos competentes, mostra que não vivemos numa democracia, mas numa autocracia, ou melhor, numa…realeza!
A partir deste momento, Eco apresenta as características do que chama Nova Idade Média. A primeira é a neomedievalização da sociedade. Nos anos 70, a guerra do Vietnã estava no imaginário da época e sua influência no pensamento de Eco se faz porque ali se evidenciou que “tudo depende do feudatário em quem se confia”. Não foi mais ou menos o que se sucedeu quando o prefeito de Porto Alegre reuniu, no Instituto Ling, uma centena de empresários para afirmar que o governo federal daria auxilio a todos, que não faltariam recursos para… os empresários?. Naquele contexto, para Eco, “papel de polícias privadas e de mercenários a serviço [do poder], serve ou não serve para reforçar a presença simbólica do poder”. Não foi isso que aconteceu quando em inúmeras manifestações contra a o atraso da retirada de água, de reclamações contra o DMAE feitas, comunidades do Sarandi foram reprimidas pela polícia? Não foi isso que aconteceu quando a polícia militar do governo estadual reprimiu manifestação contra a destruição do meio ambiente nesta sexta-feira, dia 31/05, portando armas de fogo como fuzis para intimidar e após, com gás de pimenta, para dispersar, como relatado pelo Esquerda Diário? Com dois pesos e duas medidas, a verdade é que o prefeito e o governo do estado neoliberal mantem a proteção sobre seu povo, no caso, os empresários locais, que agradecem o empenho e para os cidadãos, o caminho das cidades provisórias e da violência.
Na sociedade neomedieval, Eco sugere que nossa cidade está se transformando num universo de clãs. No Lami, voluntários da comunidade organizam entregas de marmitas para os moradores afetados pela enchente “aqui somos todos uma família”, eles dizem. A enchente separou os bairros atingidos dos não atingidos e cada um é uma “grande minoria” que se reconhece como atingida ou não pela catástrofe e se auto organiza na ausência do Estado para a limpeza de suas casas e ruas. As igrejas e escolas se tornam o centro dessas novas comunidades isoladas da cidade, elas organizam o auxílio e assim, nos termos de Eco “estamos diante do quartel medieval”. Aqui, a família e a rede de amizade são como os clãs medievais que organizam a limpeza das casas. E o que fez o prefeito, quando nos primeiros dias da catástrofe, apelou para que aqueles que pudessem ir para a praia o fossem, se não o apelo como “classes acomodadas que, seguindo o mito da natureza, se retiram para fora da cidade”, nos termos de Eco? A enchente não inunda apenas as ruas, ela esfacela a comunidade. O quadro de guerra civil medieval se atualiza nas inúmeras pessoas que preferiram ficar em casa sob as águas para defender suas propriedades contra tudo e contra todos os bandidos.
Eco ressalva que um paralelo como este tem limitações, diferenças. Na outra Idade Média, a antiga, população estava em declínio; aqui, na nova, sua expansão é a causa da ocupação das regiões ribeirinhas. Mas os paralelos continuam pois, tanto na antiga como na atual, se abandona as cidades atingidas. É o que está acontecendo quando se discute mudar uma cidade de lugar, como Muçum. Na outra Idade Média, havia também, com as invasões, dificuldades de comunicação devido a destruição de estradas, o que hoje tem relação com as que sofreram deslizamentos, mas também com outras estradas, as digitais, as redes de internet e telefonia que ficaram inoperantes nas regiões alagadas. Em ambas pode-se ver como efeito da crise a carestia no aumento de muitos produtos dos mercados porque na comparação do papel da tragédia da natureza tanto quanto no passado como no presente está cheia de similaridades.
Por isso a segunda característica é a corrosão ecológica. Eco diz que se hoje não sofremos invasão por bárbaros beligerantes, a substituímos pelo caos climático, por inundações que levam a crise de abastecimento de água e de energia elétrica. Nas redes sociais são inúmeras as imagens de postes de luz que pegam fogo. Em Porto Alegre, na noite de domingo (26/5) um incêndio tomou conta de uma unidade do grupo Autoglas no Bairro Humaitá, uma das regiões mais inundadas de Porto Alegre. Como na Idade Média, nossa era é de escassez: a falta de ferro do passado foi substituída pela falta de água tratada durante a enchente. Nos primeiros dias da cheia, uma corrida aos supermercados fez escassear a água potável, apesar dos alertas de que o seu fornecimento estava garantido. E, logo após, com centenas de casas sem água, tornou-se o principal produto de doação da comunidade às vítimas da enchente. A cena da entrega de alimentos para uma população pobre e sem de onde tirar mantimentos, a devastação da economia agrícola como a vista nas diversos reportagens sobre a indústria do vinho gaúcho mostra um ponto de atenção dos políticos e dos meios de comunicação: a ideia de “celeiro gaúcho” está literalmente indo por… água abaixo!
A terceira característica é o neonomadismo. Eco diz que, apesar de ser considerada uma idade das trevas, na Idade Média vários avanços tecnológicos ocorreram no campo da tecnologia de transportes, como a invenção de estribos, da coleira dorsal que aumentava o rendimento do cavalo e do timão para os navios. A Europa é repleta de caminhos e estradas pois era um tempo de viagens, ainda que inseguras. Nos séculos X e XI surgem os povos ciganos, viajantes do noroeste da Índia que por diversos caminhos chegam a Europa do século XIV. Esse é exatamente o ponto em que estão nossos refugiados do clima, nossas vítimas da enchente que também passam a ser viajantes, de abrigo em abrigo, nas ruas transformadas em rios em busca do que sobrou em seus lares. E, como no passado, esse neonomadismo é repleto de riscos. Há violência a noite nos bairros com roubos. Os salvamentos precisam serem acompanhados também por policiais e militares “Nunca se sabe se estamos em estado de beligerância ou não”, diz Eco.
A quarta característica é o sentimento de insegurança. Nada caracteriza melhor o mundo medieval em comparação com o mundo da enchente do que o sentimento de insegurança. A comparação entre o passado e o presente, feita por Eco para os subterrâneos de Nova Iorque, em nada deixam a dever para o que se passou nas regiões afetadas, especialmente na Zona Norte. Em ambos lugares, é “a sensação de que o mundo está acabando”, é o retorno do medo do fim, a catástrofe final como sentiram os moradores da Europa medieval no ano mil “Em nossos dias, os temas se repetem uma vez o outra, da catástrofe atômica à catástrofe ecológica”, diz Eco. No passado se falava em renovatio imperi, a necessidade de renovação. Como se fala de revolução no tempo da enchente? Quando vemos escrito no lixo largado nas ruas a expressão “Fora Melo”. Aqui, a renovação passa pelas eleições e rejeição do atual modelo econômico.
A quinta característica é a existência de uma autoridade. Eco afirma que l’auctoritas, o recurso a autoridade no medievo é sempre definido pelo excesso de zelo que faz com que tudo seja referido “a uma autoridade anterior”. Essa autoridade vai de padres da Igreja, como Santo Agostinho, às Sagradas Escrituras, ou mesmo o pensamento de Aristóteles. Ali, diz Eco, “as obras cultas medievais parecem, desde fora, enormes monólogos sem diferenças porque todas procuram usar a mesma linguagem, os mesmos argumentos, o mesmo léxico, e o olho exterior parece que sempre dizem a mesma coisa. Aqui, as autoridades são nossos governantes, que dizem “não é hora de achar culpados”, “é uma enchente que jamais seria prevista”, discurso assumido pela mídia hegemônica de plantão; mas eis que surge, no meio da perda de sentido, da perda de rumo sobre o que fazer, um novo discurso, agora das autoridades científicas até então relegadas ao segundo plano, como o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o IPH, que começam a participar do debate público e político e serem ouvidos. Na medievalidade, as escrituras eram a autoridade; na enchente, vaga entre políticos e cientistas. Em ambos períodos, como diz Eco, o discurso visa “reagir ante a desordem e a dissipação cultural”.
A sexta característica é a existência de uma forma de pensamento sob a forma de jogo. No jogo intelectual medieval, diz Eco, domina o formalismo. De origem religiosa, significa uma ênfase nas descrições, espécie de pensamento separado do contexto social. É o domínio da forma sob o conteúdo. É o que fazem nossos políticos, eles dissociam sua ação do contexto social, do projeto que representam, reduzindo-se a avaliação de sua competência às iniciativas que tomam no contexto da tragédia “o político argumenta com sutileza, apoiando-se na autoridade, para fundamentar sobre bases teóricas uma práxis em formação. O cientista tenta dar forma nova, mediante classificações e distinções a um universo cultural que há explorado” diz Eco. Os políticos culpam seus predecessores por não investirem em políticas de saneamento; os cientistas culpam os governantes atuais pelo aprofundamento do modelo de desenvolvimento que leva ao caos climático. O político joga com os argumentos para escapar; o cientista tenta mostrar “que existem abcissas de pensamento que permite recuperar o moderno e o antigo sobre uma mesma lógica”. O discurso político é a-histórico; o discurso científico é histórico.
A última característica é a existência de monastérios. Assim como nos anos 70, Eco compara o campus universitário ao monastério medieval, o lugar perdido no campo, cercado por hordas bárbaras e habitado por monges, podemos dizer que o abrigo de refugiados, com seus voluntários quase-monges pela doação de si que fazem, atualiza o monastério como instituição. Mas essa semelhança ainda é superficial, já que não é um lugar de transmitir a cultura do passado, mas, ao contrário, servir de base para ao construção de uma cultura do futuro, estimulando a recuperação das vítimas “que restauram gradualmente, estimulando sua reconstrução” nos termos de Eco. Se na Idade Média os monastérios faziam o trabalho de conservação desordenada onde, diz Eco, “se perdeu manuscritos essenciais e se salvou outros completamente irrisórios”, nossos abrigos também pois cada vítima traz apenas as coisas do corpo e aquilo que consegue doações. Em ambos, a desorganização do trabalho de memória está no ar: são centenas de pessoas a procura de seus documentos perdidos na enchente e órgãos públicos se organizam no local para providenciar sua reprodução; são centenas de animais que estão à procura de seus donos e sites são organizados para que os donos que perderam seus animais possam tentar localiza-los. O que se tenta preserva nas instituições é a memória.
Para nossas vítimas da enchente, a transição é essa vida transitória-permanente que passam a levar. Esse mundo é cheio de dúvidas: as autoridades construirão para eles novas casas? Haverá novas cidades provisórias para morar? Como diz Eco, a nova Idade Média é uma época de transição permanente para a qual se necessitará novos métodos de adaptação: “o problema não será tanto o de conservar cientificamente o passado quanto elaborar hipóteses sobre o aproveitamento da desordem e entrar na lógica da conflitualidade “. Com isso Eco quer dizer que frente a catástrofe, precisamos nos recuperar, nos readaptar, mas sempre alimentados pela utopia. É a ideia de que um mundo novo é possível, um mundo que não gere o caos climático. Na crise medieval, o cidadão daquela época inventou a universidade. Talvez saia também daí a solução para preservar o que somos, a herança de nosso passado frente a crise, não esquecendo o que passou, mas mediante novas reelaborações. Para Eco, a Idade Média foi um período efervescente, mesmo que tenha sido chamado de idade das trevas “Nada afirma que a nova Idade Média representa uma perspectiva absolutamente alegre”. Talvez agora possamos dar o verdadeiro valor ao conhecimento, atender as reivindicações de proteção solicitadas pelos técnicos e então dar a chance de termos tempos mais alegras. Para isso temos as eleições municipais vindouras para inventar um novo governo para atender o “Fora Melo” inscrito nos móveis largados nas ruas da cidade. Para mim, frente as lideranças neoliberais que vivem sua pior crise, serve a expressão citada por Eco ao final de seu texto pelos chineses para falar mal de alguém, que diziam “Oxalá vivas em uma época interessante”, ironiza .
(*) Doutor em Educação, autor de “O Êxtase Neoliberal” (Clube dos Autores)
***
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21