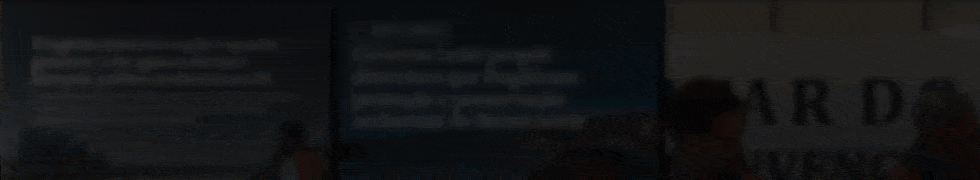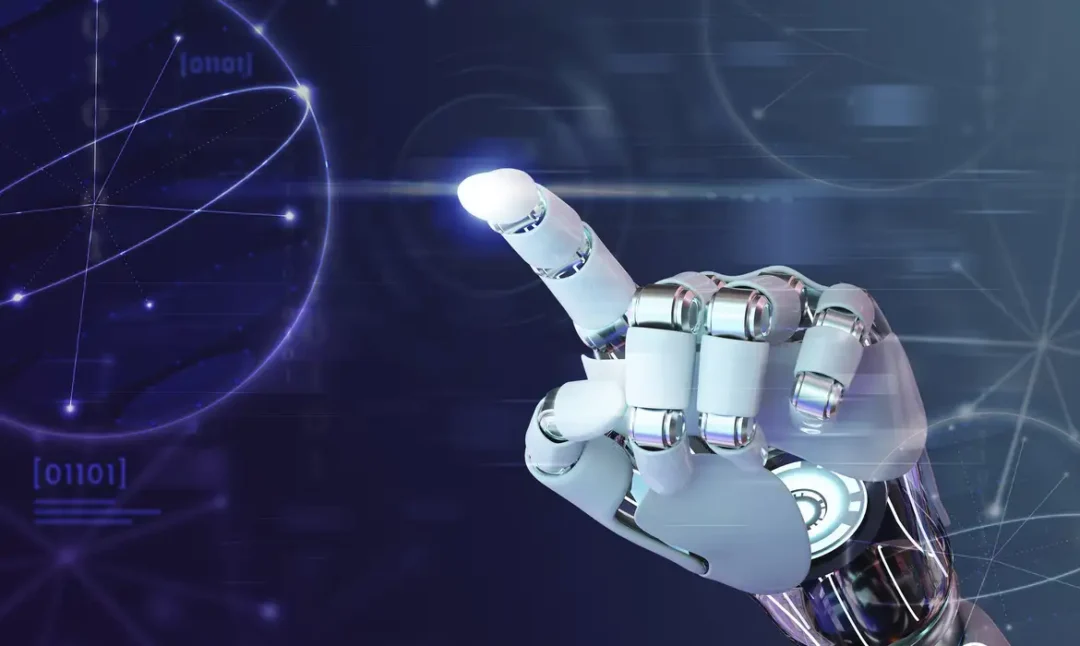Luciano Mattuella (*)
Quando começou a receber em atendimento os combatentes recém-chegados dos campos de batalha da Primeira Guerra, Freud teve uma surpresa. Esperava que os soldados tivessem muito a falar sobre o front, que contariam sem cessar os horrores aos quais haviam sido expostos.
Não foi o que aconteceu.
Pelo contrário, esses rapazes ficavam silenciosos. Quando muito, relatavam sonhos em que uma granada explodia atingindo um companheiro, ou qualquer outra situação extrema. A guerra se apresentava sem palavras, emudecia a todos.
Guardadas as proporções, posso compartilhar aqui com os leitores que algo muito parecido tem acontecido no consultório nos últimos dias.
Eu esperava que os pacientes fossem passar suas sessões inteiras contando em detalhes sobre como as enchentes aqui no Rio Grande do Sul afetaram as suas vidas, suas famílias, seus amigos. Mas o que aconteceu foi o avesso disso. Após meia dúzia de palavras trocadas (“Tu está seguro? Os teus estão seguros?”), silêncio.
Os que moram aqui sentem que não faz sentido falar de mais nenhum outro assunto e suspendem a associação livre na notícia resumida das condições gerais de saúde e proteção. Os pacientes de fora, mas que são originários daqui, falam da preocupação com os seus parentes e amigos, e por vezes invertem a lógica da terapia e me perguntam como eu estou me sentindo. Já os que nunca viveram aqui, falam de forma mais livre sobre suas questões, não tão atravessados pela nossa catástrofe doméstica.
Mas uma frase insiste como estribilho: “As imagens são horríveis”.
Parece que estamos ainda neste primeiro momento de contato com o trauma, suspensos no estampido da granada. Muitos de nós, que não tivemos as nossas casas alagadas, estamos no próprio front de batalha, seja dando suporte psíquico, seja dando o acolhimento possível àqueles que chegam aos abrigos humanitários espalhados pelas cidades gaúchas.
Enquanto escrevo este texto, escuto helicópteros passando por cima do meu prédio e sirenes de todos os tipos atravessando a avenida. Quando caminho na rua, vejo todo tipo de veículo carregando botes, caiaques e barcos. O sentimento é ambivalente: por um lado, sinto um aperto no peito com esta movimentação, pois sei que, se estes recursos estão sendo utilizados, é porque ainda existem pessoas e animais precisando de ajuda emergencial. Por outro, sei que estão sendo feitos esforços para o resgate e para que estas vidas sejam salvas.
As ruas também trazem aquela sensação desesperadora que lembra o começo da pandemia. As regiões menos afetadas pelas enchentes estão mais desérticas. Colegas de profissão têm compartilhado que também estão se sentindo como se estivessem atendendo em março de 2020. A sensação de déjà-vu é arrebatadora e traz lembranças que preferíamos que fossem esquecidas, experiências que supúnhamos que já havíamos atravessado. Para algumas pessoas, as notícias de hospitais lotados reavivam lutos que julgavam já terminados.
Mas como se faz o luto de uma cidade? De uma livraria que frequentávamos (pensando em vocês, Livraria Taverna!)? De uma estrada que percorríamos? De uma ponte? De uma orla? Como se faz o luto de um rio?
Este talvez seja um elemento a ser levado em conta: quando se trata do traumático, algo sempre fica sem elaboração, restando uma espécie de calcificação da memória, como quando aprendemos a caminhar com um calo no pé para evitar a dor.
Em uma situação como a que estamos vivendo, desaprendemos a caminhar.
Assim como na pandemia, nós tentamos dar conta desta dor de várias formas. Da minha parte, me vejo novamente rolando o feed das redes sociais e acompanhando quase em tempo real a cobertura da rádio e da televisão. Como se a super-exposição às imagens e narrativas da enchente pudessem dar algum contorno à angústia e ao desamparo. Na repetição, fica à espera de alguma diferença. Há um paradoxo aí: a mesma imagem que captura e silencia também parece ter uma potência elaborativa. É uma tentativa incessante de colocar palavras onde tudo parece tão sem sentido.
Mas a palavra ainda não chegou, e vai demorar a chegar.
Nosso primeiro contato é com a brutalidade ensurdecedora da imagem. Em um segundo momento, esta é a aposta da psicanálise, será possível que a palavra compareça. Antes, evidentemente, é preciso que saíamos do registro da necessidade, que ajudemos aqueles que têm fome, frio, sede. Em tragédias como esta pela qual estamos passando, a palavra é um privilégio de poucos.
Se na época da pandemia a espera era pela notícia da vacina, agora é pela baixa do Guaíba. Quando acordo, esta é a primeira informação que busco: “Será que o nível baixou?”. Há pouco mais de quatro anos, a ordem era para ficarmos em casa; agora, vemos relatos de pessoas que não se conformam, com toda razão, por terem que seguir a indicação de saírem de casa.
Enfim, estamos sendo apresentados aos primeiros refugiados climáticos no nosso estado. Que neste momento tenhamos a prontidão para ajudarmos a todos os necessitados e, mais adiante, que não nos falte a lucidez para votarmos em governantes que aceitem que a catástrofe climática não é iminente, mas já está entre nós.
E as imagens são horríveis.
Impossível terminar este texto sem o anseio profundamente sincero de que todos os leitores estejam bem, acolhidos e seguros. Para aqueles em situação difícil, estendo a minha solidariedade e meu carinho. De coração.
(*) Luciano Mattuella é psicanalista, membro da APPOA.
***
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.