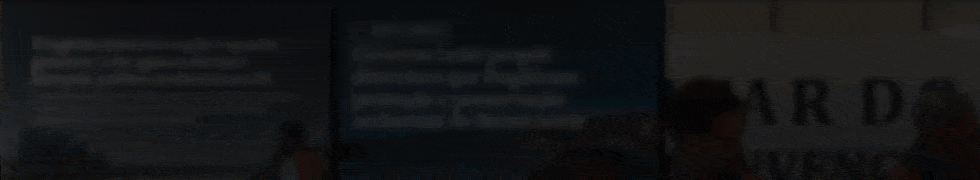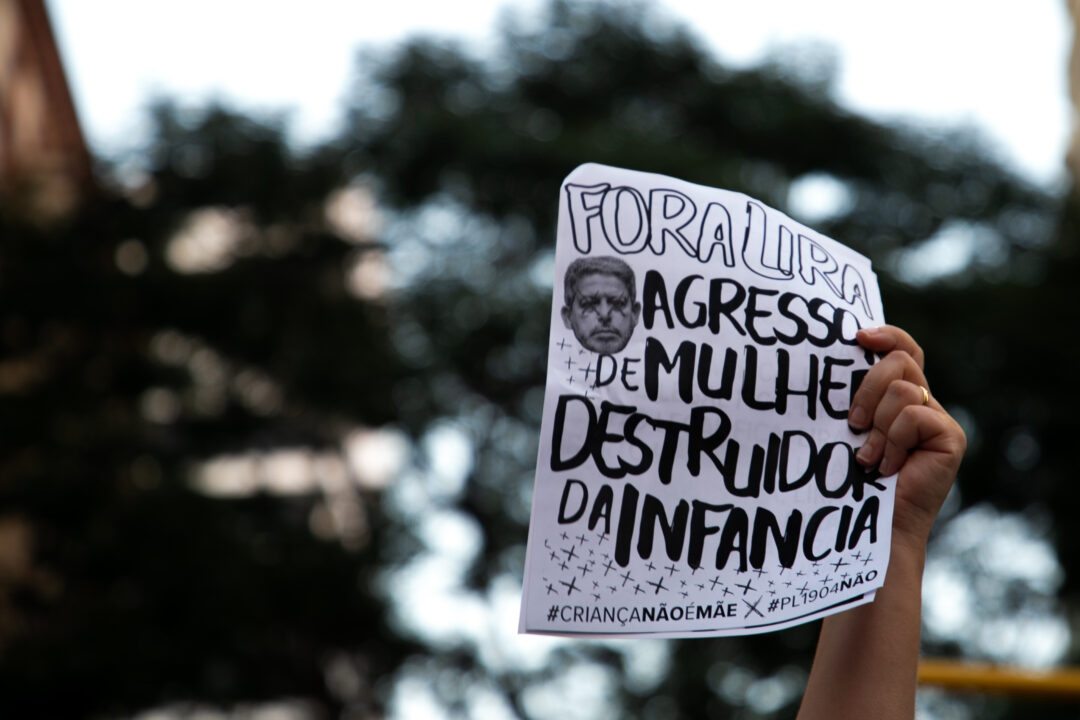Natalia Pietra Méndez, Magali Mendes de Menezes e Márcia Barbosa (*)
Vanessa Domingues é professora em uma escola pública de Canoas. Ela e sua família tiveram a casa tomada pelas águas das enchentes de maio de 2024. Não é a primeira vez que sua vida é tocada de forma direta e cruel por eventos associados às transformações que ocorrem no ambiente do planeta. Em março de 2021, Dona Sônia, mãe da Vanessa, se tornou uma das mais de 700 mil vítimas da Covid 19 no Brasil, aos 62 anos, antes de que sua faixa etária pudesse ser contemplada pelas vacinas, que demoraram a chegar para a população. As lembranças da Dona Sônia, guardadas em seus objetos, suas plantas, fotografias, foram agora levadas pelas águas da enchente que assolou vários municípios gaúchos. Não são apenas objetos colocados em grandes lixos, mas é uma parte da vida que é perdida e não se pode tirar “uma segunda cópia”. Vanessa mal teve tempo para elaborar o luto e hoje está abrigada na escola em que trabalha. Apesar disso, ela também atua como voluntária que, de forma ativa e solidária, auxilia em todos os trabalhos para quem precisa de cuidados imediatos.
A história de Vanessa, com suas singularidades, representa o momento atual de muitas mulheres do nosso estado, que atuam como cuidadoras das tantas vítimas da crise climática. As Vanessas cuidadoras assumem diferentes faces, são também aquelas que estão nos abrigos junto com seus familiares, ou sozinhas, e continuam a cuidar de seu pequeno espaço, feito de um colchão e de algumas mudas de roupas. Neste espaço de acolhimento, limpam, cuidam das crianças, tentando renovar a esperança por um amanhã melhor. Contudo, não é raro vermos cenas de violência, que colocam em relevo a violência doméstica, também cotidiana, e vivida por muitas mulheres e meninas.
Definitivamente, maio de 2024 já marca, no Rio Grande do Sul, a maior catástrofe de sua história, decorrente das fortes chuvas que afetaram e continuam afetando os municípios. Milhares de pessoas perderam total ou parcialmente suas moradias, necessitando de abrigo temporário em espaços que foram improvisados por organizações da sociedade civil, pelo poder público e mesmo por redes de apoio formadas por familiares e amigos. A crise climática, que tem no sul do Brasil seu epicentro, reúne diversos desdobramentos que precisam ser analisados por cientistas e pelo poder público. Um dos principais pontos é que a situação de emergência climática põe em evidência uma crise do cuidado.
Nestes múltiplos espaços que abrigam as pessoas mais atingidas, salta aos nossos olhos a presença massiva das mulheres exercendo os trabalhos de cuidado, também chamados de trabalho reprodutivo. Trata-se de um trabalho que, historicamente, passou a ser concentrado em mãos femininas. A tarefa de gestar, cuidar das crianças, dos membros da família e dos anciãos é um labor necessário para a reprodução da vida e da sua manutenção. O trabalho reprodutivo, ainda quando realizado em troca de remuneração, não é, no sistema capitalista, considerado um trabalho produtivo. Paradoxalmente, é um trabalho essencial, mas socialmente desvalorizado. Na medida em que ocorre essa desvalorização e diante de situações emergenciais que alteram o cotidiano das cidades, ocorre um aprofundamento da crise da reprodução, ou seja, do modo como o trabalho do cuidado é organizado e distribuído. Arruza, Bhattacharya e Fraser (2019) analisam que o neoliberalismo reacionário se alimenta de tropas e milícias misóginas e racistas para, supostamente, defender os interesses “da maioria” (maioria que se autodenomina como cidadãos de bem ou homens comuns) [1]. Pois, mais uma vez assistimos, nas redes sociais, uma tentativa de invisibilizar o trabalho do cuidado, feminino, com postagens virais que exaltam o papel dos “homens herois” nos resgates e salvamentos. Não se trata aqui de diminuir o papel de qualquer pessoa no socorro às vítimas das enchentes. Porém, passado esse primeiro momento, o trabalho de cuidado que engloba abrigar pessoas, garantir o alimento, o conforto térmico, a saúde, a prevenção e o combate à violência, o trabalho de limpeza, entre tantas outras tarefas essenciais, vem sendo feito – majoritariamente – pelas mesmas mãos femininas que há séculos se encarregam destas jornadas. A quem interessa, em meio a uma crise sem precedentes, continuar a menosprezar o trabalho que historicamente foi vinculado às mulheres?
Durante a pandemia o cenário foi similar. Mesmo em ambientes de maior privilégio como a academia, o grupo Parent in Science demonstrou que foram as mulheres que sofreram o maior impacto em suas carreiras. Elas pararam de fazer ciência para sobreviver com consciência. Mas, na avaliação de suas carreiras, a dimensão do cuidado não foi um elemento levado em conta [2].
Os debates sobre a emergência climática precisam considerar que um dos problemas fundamentais que essa situação escancara é a crise do trabalho do cuidado. Como afirma o livro Feminismo para os 99%: um manifesto, por trás das instituições oficiais do capitalismo (trabalho assalariado, produção, troca de mercadorias e sistema financeiro) é preciso um trabalho (invisibilizado) que dá suporte ao sistema. Este trabalho de cuidado que é realizado, em grande medida, na célula doméstica, foi amplamente desorganizado diante dos milhares de refugiados climáticos que se encontram desabrigados. O que assistimos nos abrigos são pessoas como Vanessa, atingidas pela calamidade e, ainda assim, assumindo o trabalho de cuidados. Assistimos também a profissionais da área da saúde, psicologia, serviço social, nutrição, alimentação, entre outros, que estão trabalhando, na maioria das vezes de forma voluntária, para prestar suporte às pessoas enquanto suas próprias vidas também estão desorganizadas pela precariedade da infraestrutura das cidades, pela ausência parcial ou total das redes de cuidados. E quem cuida de quem cuida? Os projetos públicos para tratar das emergências climáticas precisam olhar para todo o universo de pessoas que estão na linha de frente dos cuidados e pensar, também para elas, políticas públicas de suporte, auxílio e valorização. O trabalho voluntário tem um limite de tempo e efetividade, sendo necessário, construir de forma urgente, ações estatais para garantir múltiplas formas de assistência à população. A dimensão do cuidado deve ser, portanto, um dos elementos-chave para qualquer projeto de recuperação das cidades.
O trabalho de reprodução social, nos moldes atuais, é resultado do processo histórico da modernidade capitalista, caracterizado pela divisão sexual, social e racial do trabalho. Assim, as tarefas de cuidado foram relegadas às pessoas do “sexo feminino” e, especialmente, aquelas cujos corpos vivem as contradições das opressões de gênero, classe e raça. Em países como o Brasil, mulheres negras representam cerca de 90% da força de trabalho doméstico. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, boa parte do trabalho doméstico é realizado por mulheres que vivem em bairros pobres e periféricos, severamente atingidos pelas enchentes. Parece que o resto do Brasil ficou surpreso, ao “descobrir” que no sul do Brasil também há população negra e indígena. Essas populações, invisibilizadas pelos bem-sucedidos projetos de branqueamento, representam um grande contingente populacional, especialmente na Região Metropolitana e metade sul do RS. Além disso, comunidades indígenas e quilombolas estão sendo fortemente atingidas pela grave situação climática, tendo seus modos de vida severamente afetados. Este tema também precisa de uma atenção especial por parte dos projetos de reconstrução das cidades, não sendo viável pensar apenas em “realocar” essas populações em territórios que se desvinculam de suas formas coletivas e ancestrais de organização.
Do mesmo modo, essa crise afeta o trabalho de cuidado exercido por profissionais da área da saúde, da educação, da assistência social, majoritariamente associado às mulheres. Para enfrentar a destruição de bairros e cidades os trabalhos de cuidados devem se multiplicar de forma eficiente, exigindo, mais do que nunca, um olhar atento, também, às necessidades de quem está na ponta, operando políticas públicas, conduzindo a reabertura das escolas e universidades, atendendo um sistema de saúde sobrecarregado, efetuando a higienização de moradias, do comércio, da indústria, recuperando a agricultura familiar.
Neste momento, cabe, também, às universidades, se debruçar sobre o trabalho de cuidados, sem o qual não será possível pensar no nosso amanhã. Afinal, quem cuida de quem hoje está cuidando? Quem cuidará da Vanessa para que ela e sua família possam, também, se recuperar? As respostas não podem ser individuais e nem depender, apenas, de ações solidárias. Por sua vez, a universidade pode oferecer análises e propostas de políticas que revertam a invisibilidade histórica do trabalho de cuidados e tenha como fio condutor, também, o cuidado com as trabalhadoras e trabalhadores que são essenciais para construir um outro futuro para o Rio Grande do Sul. Saúde, educação e assistência social devem estar presentes em todas as ações que busquem mitigar os efeitos da emergência climática bem como de políticas que visem a não repetição das tristes cenas que estamos acompanhando. O cuidado não pode ser assistencialismo, é uma dimensão ética fundamental e a única possibilidade de nossa continuidade enquanto espécie.
Notas
[1] ARRUZA; BHATTACHARYA; FRASER. Feminismo para os 99%. São Paulo: Boitempo, 2019.
[2] STANISCUASKI et al Gender, Race and Parenthood Impact Academic Productivity During the COVID-19 Pandemic: From Survey to Action.
Natalia Pietra Méndez é Professora Associada do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/UFRGS
Magali Mendes de Menezes é Professora Associada da Faculdade de Educação/UFRGS e do PPGEdu FACED.
Márcia Cristina Bernardes Barbosa é Professora Titular do Instituto de Física/UFRGS
***
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21