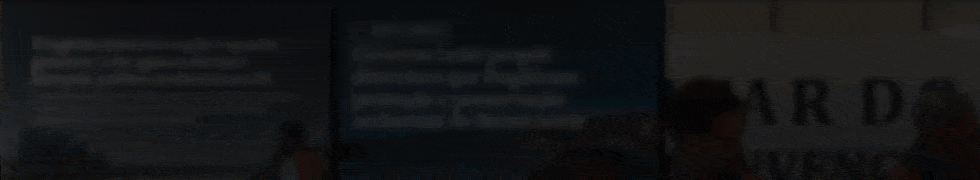Jorge Barcellos (*)
Estamos em guerra porque estamos diante de suas consequências: fim da circulação com a destruição de estradas; equipamentos de estado parados, destruição de equipamentos públicos, população civil acuada ou transformada em novos retirantes. No passado de Porto Alegre, o muro que cercava a cidade havia transformado a capital em uma fortificação. A guerra entra na história da cidade pela Revolução Farroupilha, transformando o além muros numa espécie de campo de batalha, assim como o lago Guaíba. É o rompimento dos pontos de circulação que reinscreve a cidade no espaço da guerra: o Muro da Mauá é nossa Linha Maginot, o telhado das casas serve de novos abrigos, não como os antiaéreos, mas de sobrevivência, os diques e barragens se transformam na Muralha do Atlântico, eis-nos diante nos marcos da catástrofe. Porto Alegre voltou aos tempos dos anos 1835-45, sem acessos ao interior, sem abastecimento, se transformou em espaço logístico, espaço da guerra, e por isso a pergunta: o que aconteceu? Agora, todos nós nos transformamos em militares, não é preciso uniforme militar para se apresentar como militar. Basta um civil começar a pensar em termos de logística militar: para onde enviar suprimentos? Para onde enviar lanchas e barcos? Essa é a prática da guerra por outros meios, mas não contra a natureza somente, mas também contra os efeitos da devoração capitalista que fazem o caos climático.
O filósofo e urbanista Paul Virilio (1932-2018), conhecido por ser o criador da Dromologia, a disciplina que estuda o incremento da velocidade no mundo atual, em Guerra Pura (Brasiliense, 1984) anunciava de forma premonitória que viveríamos em um estado de guerra permanente. Ele seria definido por dois sistemas. O primeiro, o sistema de defesa contra um inimigo e o segundo, o sistema de segurança contra uma ameaça. O caos climático é a nossa ameaça. É que ele produz acontecimentos de todo o tipo que desmantelam os territórios. Cidades são evacuadas, diásporas provocadas “os territórios são desorganizados. É a desregulagem. Tudo é desfeito: relações econômicas, relações sociais, relações sexuais, relações familiares, relações de dinheiro e poder.
Terminamos num estado de derrota sem que tenha havido guerra”(Guerra Pura, p. 100). Para Virilio é a revolução dos meios de destruição que se segue a revolução dos modos de produção. Foi a ilusão do progresso feita pela tecnologia e a ascensão do livre mercado que produziu o caos climático hoje vivenciado, não se trata da produção, mas da destruição que nos coloca diante do estabelecimento do estado de guerra por outros meios. Quando as autoridades públicas vêm a público para juntar esforços para combater os efeitos das chuvas, é a máquina-de-guerra que é montada, reinstitucionalização da guerra diante de nossos olhos “mas onde o perigo cresce, cresce também aquilo que salva”, frase de Hölderlin é um guia para Virilio. Trata-se da esperança. Já passamos por essa catástrofe climática no ano passado. Quando vemos civis assumirem sua própria defesa contra as enchentes, quando os vemos na tentativa de salvar aqueles que correm perigo de vida, reconhecemos que o Estado não é capaz de proteger seus cidadãos, mas que ainda temos esperança de salvar nosso povo. Precisamos achar o caminho.
Na obra El acidente original (Amorrortu, 2009), Virilio indica alguns indícios desse caminho. As sequências de chuva que assolam o estado estão na categoria daquilo que o autor chama de “acidentes”. É o que surge na vida cotidiana que aparece de modo imprevisto, como a queda de uma ponte durante a transmissão do alerta da prefeita de Santa Teresa, Gisele Caumo (PP). Virilio diz que devemos entender o último acidente, o acidente do tempo, da velocidade das transformações, mas o caso gaúcho é algo literal, o acidente do tempo natural, tempo atmosférico. A velocidade estava presente na rapidez do avanço das águas, então é preciso ver aquilo que acontece cada vez mais rápido, reverter a ameaça do imprevisto. É isso que gera o sentimento de impotência na expressão das autoridades, do cidadão comum que é obrigado a abandonar tudo o que tem porque sua casa foi arrastada pela água, porque perdeu aqueles que ama no lugar. Virilio afirma que nos expomos aos acidentes mas que deveríamos começar expondo os acidentes, criando conhecimento a partir de uma espécie de museologia que anota, registra e reflete sobre o caos climático local “precisamente na medida em que sua repetição passa a ser um fenômeno histórico observável com toda a nitidez”. A repetição dos acidentes, desde o Titanic a Chernobyl, diz Virilio, fazem com que se tornem automáticos, sejam naturalizados, e com isso se produz uma crise da inteligência que exige uma nova inteligência. Diz Virilio que seu sintoma é a ecologia.
A catástrofe climática que se coloca sobre o Rio Grande do Sul é um estado de guerra: não é preciso tocar em armas ou instrumentos militares para destruir casas e edifícios, pontes e ruas. Quando Paul Virilio propõe seu Museu dos Acidentes com a exposição das catástrofes de um lugar, o que ele diz é que é preciso uma reflexão sobre isso e sobre a sucessão das catástrofes, uma tomada de posição frente a queda dos referentes éticos de nosso desenvolvimento econômico pois a perda de sentido é que nos faz testemunha e vítimas de tragédias.
Com a enchente, vivemos na realidade um Museu de Horrores. A catástrofe climática repetiu-se com menos tempo do que esperávamos. E nada vai contra a ideia de que virão catástrofes ainda maiores com o atual modelo de desenvolvimento. Acidente vem do latim accidens, que significa ocorrer, acontecer, cair sobre. Diz Virilio que vivemos a era do acidente global. A crise climática é o acidente global mais importante e, mesmo com as iniciativas diplomáticas para uma ação política mundial, nada avançou significativamente, mas o mundo sente seus efeitos. No Brasil, o caso gaúcho é a elevação do patamar de nossas catástrofes, que deixaram de ser locais para serem regionais, deixando de atingir cidades e passando a envolver estados inteiros. Nos termos de Virilio, se queremos estar aptos a escapar de um acidente ambiental, temos de educar, habitar e pensar desde agora em um laboratório de catástrofes pois a maior é não aprender com as tragédias. O caso gaúcho é uma escola de como, de agora em diante, deve agir o Estado brasileiro frente à tragédia, e nesse sentido, as autoridades tem muito a aprender. Esse seria o papel de um Museu Gaúcho dos Acidentes.
Há, é claro, muito mais a se fazer. Depois da enchente, é preciso rever a arquitetura de Porto Alegre, sempre erigida com base em valores de mercado sob a justificativa de que, quanto mais arranha-céus, melhor. É preciso uma arquitetura com base em valores de sobrevivência. Virilio afirma que existem duas teorias da origem da cidade, uma voltada para sua origem na sedentariedade urbana, a atividade mercantil e outra, a da origem na guerra. É preciso atualizar esses termos. Com sua formação, Porto Alegre situa-se na segunda vertente, minoritária, mas que nunca foi reconhecida em importância. É essa que deve influir na construção da cidade.
É que na logística da guerra, o que conta não é a batalha, mas sua preparação. Urbanistas e arquitetos fazem a cidade surgir. A velocidade das enchentes está fazendo com que ela desapareça. Como podemos fazer uma arquitetura que proteja as pessoas? Como na guerra do passado, as chuvas capturam nossas cidades, arrasando-as, massacrando-as. Durante a Revolução Farroupilha, Porto Alegre resistiu e repeliu os revoltosos. Venceu aquela guerra. Agora, com a enchente, a está perdendo. Basta ver o desespero dos bombeiros tentando evitar que a água passe por debaixo das comportas. Por que os porto-alegrenses do passado lutaram? Porque a guerra significava a morte da cidade: em entrevista a ao RBS TV do dia 4 de maio, o Prefeito de Sininbu, Claus Schneider Wagner, às lágrimas, disse que a cidade terminou “não há mais comércio, não há mais ruas, não há mais nada”. Na guerra, a cidade sofre um massacre. Na enchente também. A expressão “abobado da enchente” originada na Enchente de 1941 refere-se a perda de sentido dos habitantes da capital ao olhar a cidade tomada pelas águas. Tempos depois, ainda antes do politicamente correto, a expressão foi usada também para descrever pessoas consideradas “burras.” Para superar os efeitos da guerra é preciso inteligência. Mas de qual tipo?
Virilio diz que foi superada a distinção entre inteligência militar e política. Essa distinção era característica do fim da Primeira Guerra Mundial. Segundo Virilio, Georges Clémenceau teria dito que “a guerra é demasiado séria para ser confiada aos militares”, quando então nasce o conceito de “economia de guerra”. Não há um arsenal de um lado e os produtos de consumo, de outro. A economia de guerra é a descoberta da indistinção do civil e do militar. Em Canoas, onde uma grave crise de transporte de vítimas ocorreu por causa da falta de barcos, barcos privados e lanchas em grande quantidade acorreram e trouxeram esperança de que a guerra poderia ser vencida. Prefeitos, governador e militares juntos em reuniões de organização de salvamento de emergência orientaram centenas de voluntários que trabalharam juntos com forças públicas. Estamos nos tempos da indistinção entre o civil e o militar. Segundo Virilio é “uma revolução copernicana nas relações da estratégica com a política”. Agora, a logística deixa de ser o procedimento segundo o qual o potencial de um lugar é transferido para suas forças armadas, mas para a Defesa Civil de um lugar. Não foi o mesmo que aconteceu nas chuvas de Petrópolis, no Rio de Janeiro? É por isso que o militar se expandiu, todos agora participam da logística da guerra. Para Virilio, o advento da arma final (a bomba atômica) significa o advento da Guerra Total. Mas e se a arma final não precisar ser tão sofisticada, tão complicada assim, se estiver lá onde a própria religião já a apontou, no…dilúvio provocado pela velocidade do caos climático? “Nessa guerra tudo acontece em alguns segundos, não temos tempo para reagir”, diz um capitão que ordenou o lançamento de um míssil de um exocet na guerra das Malvinas. Esta é a posição das vítimas da tragédia das enchentes, você ouve o relato de que a água sobe muito rápido e não tem tempo de evacuar. Isso é desesperador e produz temor nos voluntários porque, transformados em militares, eles fazem ações de salvamento que cabem ao Estado sem nenhum preparo para isso. O cerco militar foi substituído pelo cerco das águas. Diz Virilio “sem o saber, já somos todos soldados civis”.
Que podemos fazer agora? Primeiro salvar as vítimas e cuidar delas e depois reconstruir a cidade. Mas e depois? Nas próximas eleições, eleger candidatos que deem prioridade a programas que envolvam proteção à natureza local, a redução do poder do capital imobiliário, a ações educativas de combate a catástrofes e amplo apoio à defesa das classes populares. Estamos em guerra e nela, a economia de um lugar se volta para ela. Mas uma guerra também é preparação e nossas futuras decisões, de um Plano Diretor a um Museu dos Acidentes poderiam amenizar a dor de tragédias futuras.
(*) Jorge Barcellos, Doutor em Educação, autor de O êxtase neoliberal (Clube dos autores)
***
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21