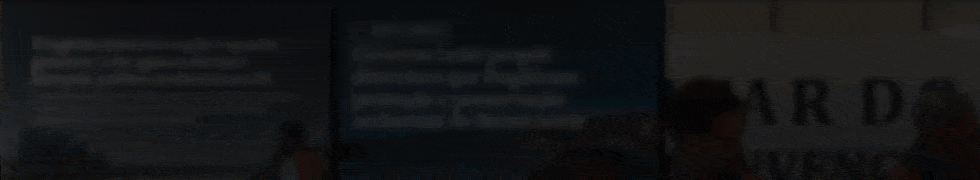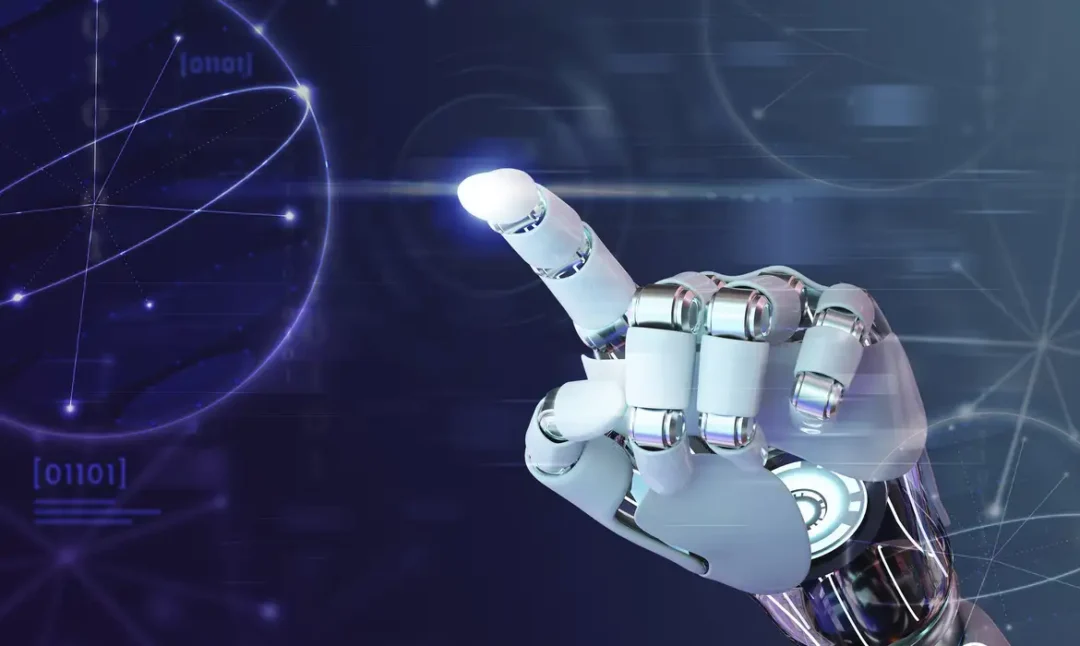Maria Gabriela Curubeto Godoy (*)
Há cerca de duas semanas, o Rio Grande do Sul tem sido devastado pelas enchentes. Respostas imediatas, de resgate de pessoas e animais ilhados e em risco de serem engolidos pelas águas foram acionadas, em um esforço coletivo e inesgotável da Defesa Civil, bombeiros, forças armadas, voluntários e tantos outros grupos. Desde Porto Alegre, helicópteros e mais helicópteros se sucedem no céu.
Pessoas resgatadas e evacuadas passaram a ser recebidas em espaços improvisados e rapidamente organizados, tornando a área metropolitana do Estado e tantas outras regiões em um enorme conglomerado de campos de refugiados climáticos. Em um afã solidário, espontâneo e voluntário pipocaram abrigos por todos os lados, vinculados a associações e centros comunitários, igrejas, escolas, universidades, e tantas outras entidades e instituições. Alguns grupos afeitos ao libertarianismo político e econômico logo se apropriaram e passaram, oportunisticamente, a propagandear essas iniciativas a partir de lemas como “é povo pelo povo”.
Mas, e o Estado? Que lugar lhe cabe ante tamanho desastre? “Vai depender da concepção de Estado”, responderão alguns prontamente. Concepções de Estado Mínimo, como as que vigoram nas atuais gestões governamentais do município de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul, certamente têm dificuldades em lidar com a situação. E isso se torna evidente ao ver a dificuldade em coordenar o caos instalado.
Tomando Porto Alegre como exemplo, observa-se a ausência da gestão em assumir coisas básicas, como “sim, os abrigos comunitários abertos por voluntários precisam ser corresponsabilidade junto com o município”. Isso não significa que o subdimensionado setor público estatal, desmantelado e empresariado nas últimas gestões governamentais, sobretudo em setores extremamente sensíveis na crise atual, como a assistência social e a saúde, tenha que assumir sozinho o atendimento direto ao caos.
Mas é o Estado quem deve fazer o dimensionamento de necessidades; a sugestão de distribuição, localização e número de vagas de abrigos; a definição de diretrizes básicas de funcionamento; a avaliação da necessidade ou não de equipes de saúde dentro do abrigo, usando critérios como número de vagas, acessibilidade a serviços de saúde no território, dimensionamento dos serviços de saúde próximos, e outros; a articulação do fluxo de doações e tantas outras coisas que não envolvem necessariamente a assistência direta, mas exigem assumir o comando da situação. Algo que piora ainda mais em ano de eleição, quando a máquina administrativa para ou entra em ritmo lento.
O exemplo dos abrigos não coloca a responsabilidade apenas na Assistência Social estatal, mas na atuação efetiva de um Gabinete ou Comitê de Crise que precisa mostrar minimamente a sua cara, apresentar quem são seus representantes e referências nos diferentes setores governamentais. Ou seja, mesmo para os defensores do Estado Mínimo, é na crise que se morde a língua e o Estado – ente relegado e desqualificado por muitos dos governantes atuais – precisa mostrar a sua cara.
E quando se fala em crise, precisamos compreender que a situação atual tende a transformar-se numa sucessão de crises. Hoje ainda estamos lidando com o choque gerado pela água e pela enchente, com pessoas desabrigadas que passaram a primeira semana tentando se situar em relação ao que aconteceu. Mas, à medida que o tempo passa, surgem as mazelas do confinamento de tanta gente junta, associadas às doenças decorrentes da enchente. Leptospirose, gastroenterites, hepatites, infecções respiratórias, dengue, problemas psicológicos, crises de abstinência de drogas e outras. Além disso, os abrigos são assentamentos humanos que reproduzem a lógica da sociedade e da cidade. Entram as facções e o tráfico, continuam as violências e abusos contra os segmentos mais vulneráveis, crianças, mulheres, idosos. Ou seja, situações catastróficas expõe o melhor e o pior da condição humana de forma amplificada e os abrigos são exponentes disso.
Em relação ao futuro mais próximo, precisamos lembrar que teremos que conviver com uma sucessão de lutos. O luto da enchente, da perda imediata de abrigo e de entes queridos, ao qual se sucede o luto que surgirá quando as águas baixarem, ao tentar retornar e constatar a destruição real. O desaparecimento da casa, do bairro, das memórias afetivas, de espaços da cidade, de referências. Além da possibilidade de muitas pessoas que terão que lidar com o desalojamento por longo tempo, dependendo de abrigos inicialmente temporários .
Outra questão importante trata-se da ajuda espontânea, que é fundamental. Mas sabemos que há um afã solidário que gradativamente costuma minguar. E quando o afã voluntário minguar? Seja por cansaço, seja porque muitos terão que retornar a suas atividades habituais? E quando as doações diminuírem? E quando as escolas, universidades e tantas outras instituições agora ocupadas por pessoas desabrigadas tiverem que retomar seus serviços? Como será? Dizem que as águas demorarão um tempo para baixar. Nesse meio tempo, que ofertas minimamente coordenadas podem ser feitas às pessoas nos abrigos? Aí entra de maneira fundamental o papel do Estado. Esse ente considerado famigerado por vertentes políticas em voga abraçadas por gestores que ironicamente têm parcela de responsabilidade na crise e também nas respostas à mesma.
Por exemplo, em muitos abrigos, pessoas de bairros pobres, nos quais o Estado nunca esteve suficientemente presente, que muitas vezes “vendiam o almoço para comprar a janta”, agora estão sendo acolhidas, cuidadas, alimentadas, atendidas em suas necessidades em saúde, diga-se, na maior parte, tudo feito por voluntários. Como será a continuidade desses cuidados? Que ofertas serão feitas? Onde irão morar essas pessoas? Que projeto de cidade e de sociedade pode ser pensado coletivamente para um patamar civilizatório mais equânime e justo?
A crise é perigo ou oportunidade. Velho chavão que cabe em muitas situações, inclusive na atual. Perigo de que os mesmos donos do poder e da cidade se apropriem das decisões e recursos de reconstrução em moldes ditados por eles mesmos. Agora, por exemplo, ao invés de fazer prédios de luxo no alagado Quarto Distrito de Porto Alegre, menina dos olhos da gestão municipal e suas construtoras parceiras, pode ocorrer uma corrida para abocanhar recursos públicos para a construção de bairros populares seriais, em projetos de moradias pobres para pobres, reproduzindo a história das políticas habitacionais brasileiras.
Há também o perigo de intensificar um modelo de cidade com ainda mais muros – reais e simbólicos – assumindo-se abertamente um grande gueto ou vários pequenos guetos de refugiados climáticos em assentamentos temporários que podem tornar-se gradativamente permanentes e extremamente precarizados, reproduzindo de forma piorada o modus vivendi anterior dessas populações. Algo como uma Grande Internação experimentada no século XVIII, agora aos moldes do século XXI. Ou o perigo de aumentar a já fragilizada e vulnerabilizada população em situação de rua, praticamente esquecida e relegada nesta catástrofe, tanto é que apenas um abrigo específico foi aberto e os demais têm lhes fechado as portas em Porto Alegre. Ou seja, perigos para pior há vários e podem ser conjugados e sinergizados pela destruição de lares, empresas, comércios, postos de trabalho e etc.
Mas há também oportunidades caso queiramos começar a nos olhar no espelho enquanto sociedade para pensar no tipo de futuro queremos. Temos tecnologia e ciência que podem nos ajudar a construir as bases de um futuro mais justo e sustentável. Mas o fundamental nesse processo não é a tecnologia e a ciência que possamos escolher. Estas são apenas ferramentas e podem ser utilizadas para construir ou depredar vidas em geral. O fundamental é o compromisso ético-político que pretendamos assumir. Ético no sentido de ēthos e também de ethos, morada e costumes societários. E político, no sentido de como organizar e administrar a vida em sociedade. Neste quesito entra o papel do Estado. E, obviamente, sem Estado, na situação que estamos, não há reconstrução possível. Que futuro queremos? Estamos, portanto, ante uma bomba relógio. Cabe-nos a escolha de deixá-la explodir ou desarmá-la.
(*) Professora Adjunta do Bacharelado em Saúde Coletiva da UFRGS
***
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21