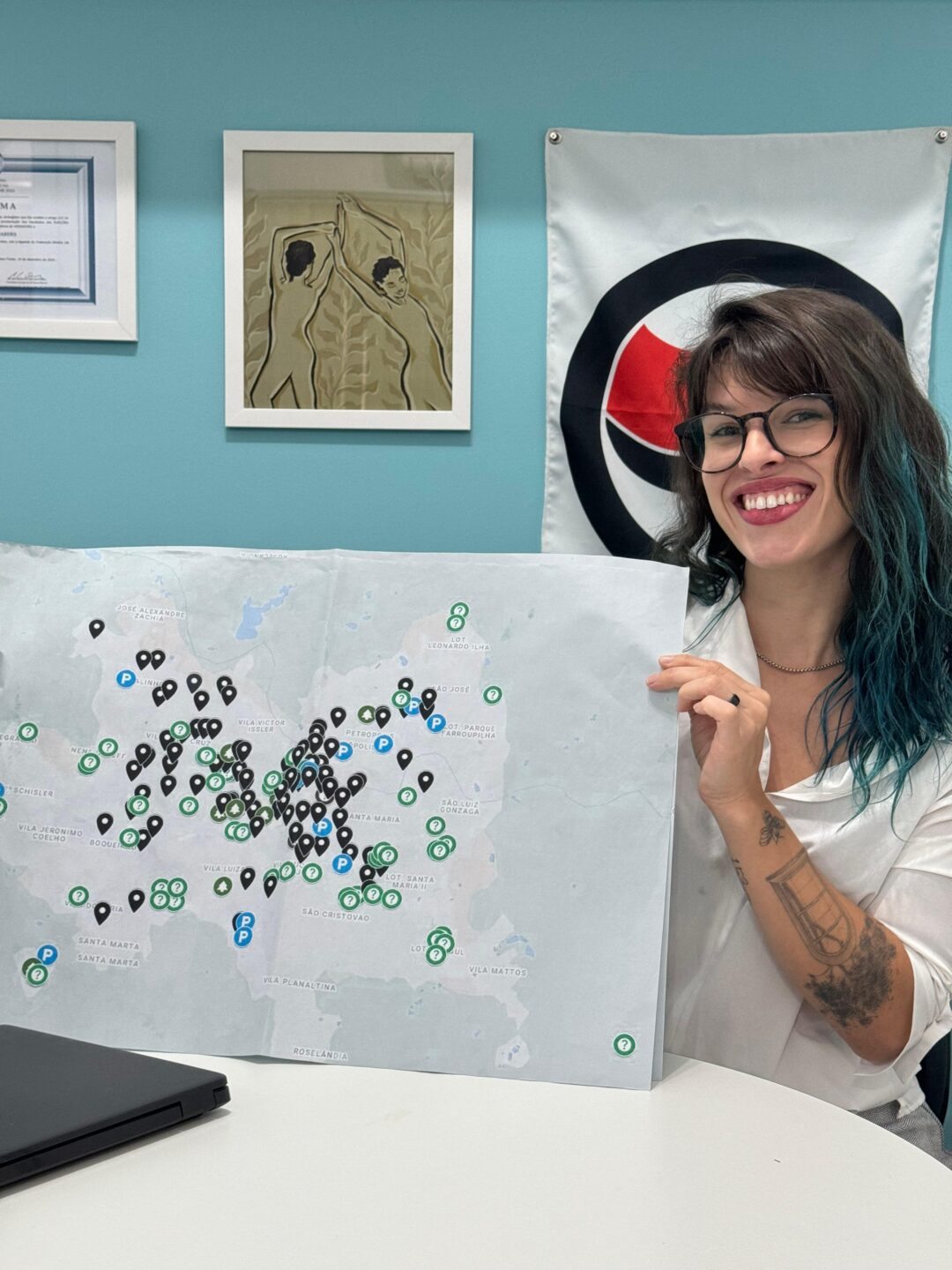Gerson Smiech Pinho (*)
Em qualquer sociedade, os rituais relativos à morte expressam referências simbólicas compartilhadas pela coletividade, valores comuns ao grupo. Em diferentes épocas e lugares, a relação com a morte sempre motivou uma enormidade de ritos – variadas formas de lidar com o fim a que estamos destinados e com as perdas que sofremos. Cada cultura institui procedimentos específicos para lidar com o corpo do morto, com o fim que lhe será dado, além de especificar condições para que o trabalho de luto seja possível.
O luto é um processo que não acontece de forma imediata, de um momento para o outro. Sua realização se dá aos poucos e demanda um considerável investimento de tempo e de energia para sua travessia. Em nossa civilização, as cerimônias em torno da morte – como o velório, o sepultamento e a cremação – são práticas importantes para dar andamento a essa tarefa, na medida em que permitem prantear e elaborar a dor pela ausência daqueles com quem se tem laços de afeto.
Nos atuais tempos de pandemia, os familiares e pessoas próximas das vítimas de COVID-19 têm sido sistematicamente privados desses ritos de despedida. As normas de biossegurança pelo risco de contágio inviabilizam que tais cerimônias aconteçam normalmente. Mesmo em situações que a morte decorra de outras razões, os velórios têm podido reunir somente algumas poucas pessoas, sem possibilidade de proximidade física ou abraços. Em meio às inúmeras limitações impostas pela pandemia, encontram-se os obstáculos para a despedida daqueles que nos deixam. Se, nesse momento, as cerimônias e os rituais representativos do sofrimento pelas mortes têm sido restritos, ganham especial importância as manifestações coletivas.
No último dia 11 de junho, uma instalação foi montada na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A intervenção consistia na abertura de 100 covas rasas com cruzes fixadas nas areias da praia, como forma de simbolizar as milhares de pessoas mortas pelo COVID-19 no Brasil. Desse modo, ao mesmo tempo que se prestava uma homenagem à memória das vítimas, propunha-se uma crítica ao modo como o governo federal vem se posicionando em relação à pandemia. Uma forma de manifestar tanto a dor pelas mortes que ocorreram, quanto a revolta pelo descaso com a vida – expressão coletiva de luto, necessária na medida em que se refere a perdas que concernem ao conjunto da comunidade.
Frente a uma manifestação tão importante e tão significativa para o momento que atravessamos, é com bastante espanto que ficamos sabendo do tratamento que a referida instalação recebeu de alguns transeuntes que caminhavam pelo local. Algumas pessoas que passavam agrediram verbalmente os responsáveis pela obra que buscava chamar atenção para as milhares de mortes provocadas pelo coronavírus no país, sob o argumento de que a mesma iria produzir “pânico”. Na sequência, enquanto um homem pôs-se a derrubar as cruzes que haviam sido colocadas na areia, um senhor saiu em defesa do ato, colocando-as novamente em pé. Reivindicava o respeito pela dor, enquanto declarava ter perdido um filho de 25 anos por COVID-19.
Se o luto é uma elaboração vivida por cada um, de forma íntima e pessoal, passa também a ser uma experiência coletiva na medida em que, no contexto atual, inúmeras mortes afetam simultaneamente a comunidade em seu conjunto. O que dizer, então, das muitas tentativas de silenciamento ou minimização de expressão da dor pelas mortes por coronavírus, cujo exemplo de Copacabana é somente um dentre tantos?
Com base na diferença entre luto e melancolia estabelecida por Freud, a filósofa Judith Butler, em seu livro “Vida precária” (Autêntica, 2019), examina o que se processa no âmbito coletivo quando somos impedidos de nos entristecer pela perda de nossos semelhantes. Segundo a autora, o apagamento das formas de representação pública a respeito dos mortos – de seus nomes, de suas imagens e de suas narrativas de vida – tem como consequência uma melancolia em escala social, entendida como um processo de luto reprimido e não passível de elaboração, cujo efeito é o incremento da violência e o consequente aumento das vidas que se perdem.
A possibilidade de experimentar tristeza pela morte de nossos semelhantes coloca em primeiro plano os laços de dependência recíproca e de responsabilidade ética que nos ligam uns aos outros na constituição do laço social a partir de um sentimento de coletividade, avesso do individualismo. Nessa direção, a viabilidade do luto parece ser um termo fundamental para a travessia desse tempo tão singular, sobre o qual ainda buscamos compreender para que melhor possamos nos situar.
(*) Psicanalista, membro da APPOA e do Centro Lydia Coriat
§§§
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.