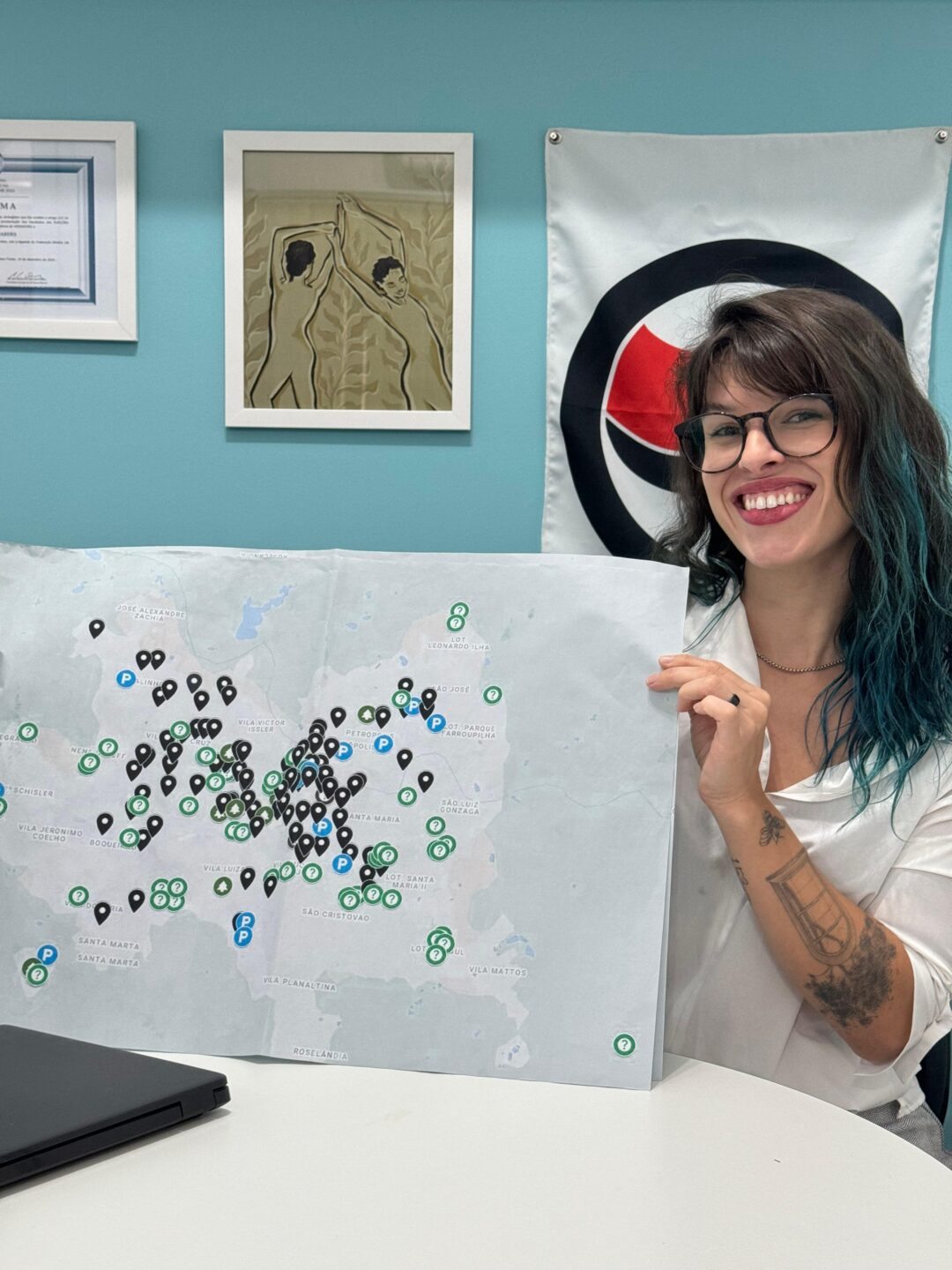Lucia Serrano Pereira (*)
Setembro de 1918, a espanhola aporta no Brasil. Vem pelo litoral, ataca as cidades do mar, e depois segue na cartografia das estradas de ferro, país adentro. Entre 20 e 50 milhões de pessoas no mundo, matou mais do que todos os da Grande Guerra que terminava. Estes já são elementos do recém saído do forno “A bailarina da morte, a gripe espanhola no Brasil”, de Lilia Schwarcz e Heloísa Starling que desde a antropologia, a história e a ciência política conversam conosco nos levando a percorrer os caminhos, efeitos, a desorientação e a devastação surpreendente e repentina causados pela chegada da gripe espanhola no Brasil. E claro, como tudo o que fica meio soterrado em outro tempo, razões variadas, mas de qualquer forma sofrendo os efeitos dos recobrimentos, elas nos propõem em seu texto reunir narrativas daquele momento, do passado, mas com o movimento de “inscrevê-las no tempo presente”. Livro escrito na quarentena.

As autoras que já haviam nos apresentado “Brasil: uma biografia”, realizam agora um verdadeiro trabalho de recolher com a delicadeza de recompor e colocar em relação as narrativas da pandemia de 1918. Tem as histórias que vem da imprensa, de como foi se movimentando e alterando o tom à medida em que avançava a coisa. Também as narrativas nas histórias dos escritores, testemunhos, pequenos fragmentos de como a chegada da gripe perpassou ou se transmitiu dentro da família; memórias de infância, e também o trabalho de passagem dessas experiências contadas ou vividas para a cozinha de suas ficções. Os escritos do campo da história, fontes variadas. Ângulos diversos, por exemplo – comentários das fotos de arquivo nas sutilezas que revelam tanto. A equipe renomada atendendo em primeiro plano, o pobre do paciente ali posando já quase sem corpo e sem alma, ele, sem nome.
“Inscrevê-las no tempo presente”. Nosso tempo, o da covid, pandemia, com o que temos atravessado.
Reler a história da gripe espanhola é também e fundamentalmente uma tentativa de pensar a vida. De lidar com os lutos, de aprender e colocar perguntas. Lidar também com as repetições que perpassam os tempos. Fazer esse trabalho valioso de colocar ao evento e suas narrativas perguntas de nosso tempo, para que trabalhe a contemporaneidade e nos ajude a elaborar o que nos concerne em nossas vidas e experiência.
Narrativas e o urbano – Lilia e Heloísa escolhem a cidade. São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Rio e outras. Como foi ali. Quais as diferenças do encontro. O que se aprende com o que foi surgindo nos diversos lugares. Como aconteceu a disseminação e as contaminações de toda ordem, do vírus, das ideias, das soluções milagrosas, das orientações sociais e políticas. Que encontro, quanta ressonância no aqui e agora.
Em O Estado de São Paulo, encontramos no garimpo do tema as declarações do Diretor de Saúde Pública da nação frente ao alarme da população com o aparecimento da chamada gripe espanhola, que na verdade, diz ele, é nada mais do que uma gripe comum, a influenza: “[…] O alarme tem sido infundado, porque a moléstia, apesar de sua grande contagiosidade, tem reinado com caráter muito benigno […] Não é a primeira vez que assistimos a tais surtos epidêmicos da influenza. De 1889 a 1891, toda a Europa foi assolada por uma grande pandemia de influenza, e que chegou até nós.”
Além da ironia do caráter muito benigno, temos a corrida do vale tudo. Óleo de rícino, purgantes, cebola e limão, caldo de galinha, cachaça com mel e limão, reza, talismãs, e sim, a propaganda do chloro quinino.
Gripe comum que matava em três dias.
Fico, entre a riqueza do texto e o breve de nossa nota aqui, com dois pontos que me pareceram desses concentradores. Um, o dos nomes da gripe. Outro, o que está na base do pesadelo como “medo do outro”.
“Bailarina”, a gripe foi nomeada por analogia, ela dançava e se espalhava em grande escala pela geografia e pelas células do doente, em um tempo em que não se entendia muito de vírus. E “Espanhola” não porque fosse originária de lá, mas por uma razão contingencial: a Espanha era neutra durante a Primeira Guerra, portanto sua imprensa estava mais livre das censuras das notícias, afinal quem estava no centro da guerra não permitiria que circulassem notícias de como seus soldados estariam sendo dizimados pela gripe, sinal de fraqueza.
Lilia e Heloísa apontam como as versões – em situações de fragilidade ou de crise, de medo – se fixam em respostas da ordem do milagre, do culpado, do bode expiatório.
Ressaltam que a peste é uma figura, uma imagem que participa do pesadelo, onde se podem nomear pelo menos três conjuntos que perpassam o imaginário social. Sua natureza de “praga” como as que assolaram o Egito na Antiguidade – que vinha como nuvem desde o litoral adentrando e disseminando a morte; na peste negra o imaginário das flechas lançadas por Deus para punir os pecadores e que tocavam os homens nas axilas e nas virilhas ( onde surgiam com mais frequência os tumores), e, junto a isso, o fato de ser provocada pelo outro, por ser o outro a via do contágio. “Daí ser a imagem de um medo muito bem referido: o medo do outro.”
E nisso, na nomeação que vai se produzindo, posso agregar: aqui se desenha claramente como se engendra o desenho do fantasma que vai incidindo nas relações e em seu empobrecimento simbólico, dando lugar para a proliferação do imaginário das paixões e das crenças, enlaçados com respostas no real.
Quem veicula a peste para a cidade? A violência que vai designar os drogados, os mendigos, a mulher, o pobre, o imigrante, o que era escravo, e tantos outros.
E ainda a observação que justamente enlaça o imaginário do outro a quem se teme e a quem se empurra para o lugar do estranho, do inimigo: “o mal de Flandres ( para os alemães), o mal alemão (para os franceses), o mal das trincheiras ( a guerra), o mal de Espanha ( para vários países), ou a China, em nosso exemplo recente.”
Ja nas palavras finais, Lilia e Heloísa trazem do filósofo Eduardo Jardim: “toda experiência, para ter seu acabamento, precisa ser narrada.” Vai na direção de apontar que a espanhola nos deixa uma série de perguntas, pois nelas nos encontramos com uma escuta e um aprendizado. Para poder também formular as nossas indagações de hoje, de como nossa epidemia desvela a desigualdade profunda na qual vivemos em nossa sociedade, e como pensar o compromisso de cada um com um laço que não tem como funcionar se cada um cuidar somente de si mesmo. Hora de encontrar solidariedade e esperança, mesmo em meio a tristeza e distopia, mesmo neste país que aprendeu tão pouco com a experiência de cem anos atrás.
A esse respeito, lembremos, Freud escreveu, perplexo frente ao desdobramento da Grande Guerra, também há cerca de cem anos, de que talvez tivéssemos nos enganado supondo que éramos seres mais civilizados do que efetivamente o éramos, para ter embarcado naquela barbárie.
(*) Lucia Serrano Pereira é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA), doutora em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
§§§
As opiniões emitidas nos artigos publicados no espaço de opinião expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento editorial do Sul21.