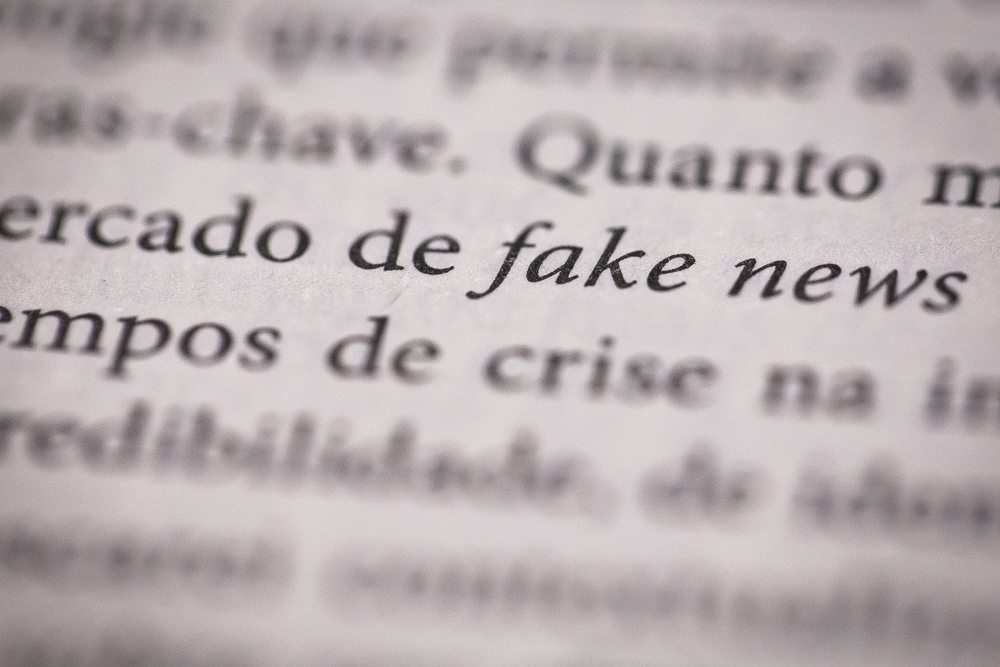Luís Eduardo Gomes
Apenas entre agosto e setembro deste ano, oito casas de candomblé e umbanda foram atacadas na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. No mais grave, uma ialorixá (mãe de santo) de 66 anos foi alvo de um grupo, supostamente formado por traficantes evangélicos recém convertidos, que a obrigou a impedir uma festividade e a quebrar os artefatos de sua própria casa. A cena foi filmada com celular e divulgada como um alerta para mães e pais de santo de que os cultos afro-brasileiros não eram bem-vindos na região, justamente a de maior concentração da população negra no Estado do Rio de Janeiro.
A mãe de santo Dolores Lima, do Partido Popular de Liberdade de Expressão Afro-Brasileiro (PPLE), que esteve em Porto Alegre durante a Semana da Consciência Negra participando de seminários sobre a preservação de religiões de matriz africana na Câmara de Vereadores, destaca que o ataque é simbolicamente ainda mais grave do que um mero episódio de intolerância religiosa, uma vez que a mãe de santo foi obrigada a depredar um espaço que, para ela, representa uma embaixada dos povos de matriz africana. Na opinião de Dolores, é um exemplo do fundamentalismo religioso e social que busca o extermínio das culturas afro-brasileiras, levado a cabo “em nome de Jesus” e sob a justificativa de enfrentamento das “coisas do diabo”. “A coisa do diabo não nos pertence, pertence a quem propaga o nome do diabo. Aquele território que está sendo vilipendiado foi um território trazido por pessoas escravizadas, que não foram convidadas para vir para esse país e que reproduziram e tentaram preservar aquilo que minimamente tinha a ver com a sua ancestralidade”, diz.
O número de casos como esse tem crescido pelo Brasil, mas ainda não chegaram ao Rio Grande do Sul – ou ainda não ganharam notoriedade por aqui. Contudo, a suplente de vereadora Pérola Sampaio (PT) considera que fazem parte de algo maior: uma das expressões de um genocídio cultural da população afro-brasileira. Visão compartilhada por Dolores. “Tem toda uma questão sistêmica de extermínio de todos os valores civilizatórios do povo negro no mundo”, diz.

Valores, como por exemplo, a ideia de coletividade, que faz parte de uma visão de mundo, a cosmovisão africana, em que todos os membros de um povo são irmãos e as mães são mães de todos. “Depois de 25 anos de guerra, Angola desconhecia o conceito de órfão. Essa é uma questão independente de religião, mas compõe uma cosmovisão africana”, diz Dolores. No Brasil, valores e tradições africanas, que vieram junto com os escravos nos porões dos navios negreiros, foram preservados em terreiros de Candomblé e Batuque — especialmente no sul do País –, que, além de serem espaços de resistência, também constituíram-se ao longo do tempo como espaços de acolhimento para a população negra.
Para Dolores, há uma grande dificuldade dessa cosmovisão africana se adaptar à modernidade e dialogar com uma visão de mundo mais centrada na individualidade, focada na exploração do capital, da competitividade. “A gente não consegue dialogar com essa visão de mundo neoliberal, uma coisa não encaixa na outra. Então, é como se a gente vivesse em dois mundo. O mundo da nossa ancestralidade, onde a gente preserva todos esses nossos valores, mas a gente também tem que ir para um outro lugar para poder dialogar com esse mundo da competitividade, onde há todo esse processo de destruição do conteúdo humano das relações”, diz.
Umbanda, Candomblé e Batuque
Apesar de 50,7% da população brasileira se declarar negra ou parda (dados do Censo de 2010, do IBGE), menos de 600 mil pessoas disseram seguir religiões africanas – 407 mil praticantes de umbanda, 167 mil do candomblé e 14 mil de outras religiões, entre elas o batuque, mais tradicional do RS. Curiosamente, dos 407.332 brasileiros que se declararam umbandistas, 140.315 estavam no RS, ou 34,45% do total. O RS tem as 14 cidades com o maior número de pessoas autodeclaradas seguidoras de cultos de origem africana. Em Cidreira, no litoral norte, 5,9% da população se declara adepta, o que faz desta cidade do litoral gaúcho o município com maior proporção de seguidores de religiões afro brasileiras do País.
Para ialorixá Iyá Vera Soares, mais conhecida como Mãe Vera, e o babalorixá Clóvis de Xangô, o Pai Clóvis, o que há na verdade é uma grande sub declaração. Eles destacam que, segundo dados do mesmo censo do IBGE, o Rio Grande do Sul tem mais de 60 mil terreiros de umbanda, batuque e candomblé. Ainda que não seja obrigatório o batismo para participação em cultos, os números indicam que há alguma coisa errada. Vera diz que, se cada terreiro atrair entre 10 e 20 pessoas, pelo menos 1 milhão de gaúchos seriam seguidores de religiões de matriz africana. Clóvis é mais otimista. Diz que há terreiros que chegam a ser frequentados por até 3 mil pessoas. “Fazendo uma média de 100 pessoas por terreiro, vamos ter uma população de 6 milhões de afro umbandista”, diz Clóvis. “É uma população enrustida? É”.
Um das explicações para a sub declaração é que, dado o sincretismo entre religiões, muitas pessoas que frequentam terreiros ainda se dizem católicos, especialmente na Bahia e Rio de Janeiro, onde as trocas culturais e miscigenação ocorreram de forma mais intensa. Já no RS, o distanciamento geográfico levou a um maior isolamento dos povos que aqui habitavam e, consequentemente, menor miscigenação cultural.

Mãe Vera explica que as diferenças entre batuque, candomblé e umbanda ocorrem pelas diferenças dos povos e nações trazidos como escravos para o Brasil, especialmente os Yorubá, Bantu e Ketu. Aqueles que se fixaram no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, eram praticantes principalmente do batuque. Já o candomblé era forte entre os povos levados para a Bahia e o Rio de Janeiro. Contudo, ela explica que, mais do que religiões, batuque e candomblé são culturas e valores de matriz africana. Já a umbanda sim pode ser considerada uma religião afro-brasileira, fruto do sincretismo entre catolicismo, espiritismo, religiosidades africanas e indígenas.
“Onde eu colocaria a grande diferença, quando a gente está falando de umbanda, falamos de uma história de 100 e poucos anos. Quando nós falamos da matriz africana, estamos falando de mais de 40 mil anos. São povos que vieram para cá, que foram escravizados e que construíram um processo de resistência, que na época se convencionou chamar de religião”, diz. “Nós não temos nada a religar, que é a origem do termo religião em latim, nós já somos interligados naturalmente com a natureza, nos auto entendemos como uma parte da natureza”.
Ela diz que o processo de escravidão obrigou os negros a serem religiosos, unificando esses valores a partir de uma visão de mundo, a cosmovisão africana, mas sob vários sub nomes, seguindo os exemplos dos mais velhos nas senzala, que era o único lugar que o negro escravizado conseguia preservar valores como a forma de andar, comer, vestir e dialogar. “Não preciso dizer que a nossa língua mãe foi arrancada de fato, porque biologicamente fomos mutilados, tirando a língua para não usarmos os nossos dialetos. Nós conseguimos preservar e reservar valores, como a fé na natureza e naquilo que temos internamente, que é o nosso ori, o orixá. Minha cabeça e meu corpo são ligados com as forças da natureza, com as águas, matas e pedras. Isso é a visão de mundo africana. Para isso temos práticas e rituais”, diz Mãe Vera.
Com o fim das senzalas, os negros continuaram a se juntar em grupos em espaços físicos voltados para cultuar suas divindades, falar suas línguas, comer sua comida, vestir suas roupas, manter sua tradição, que passaram a ser chamados de terreiros. Desde a senzala e os surgimentos dos terreiros, contudo, as religiões de matriz africana sempre foram perseguidas, atacadas, o que de certa forma forçou uma aproximação da cultura africana com os símbolos católicos.
Clóvis explica que a expressão “santo do pau oco”, por exemplo, advém da necessidade de que os africanos e seus descendentes tinham de esconder seus orixás dentro das imagens de santos católicos. Isso levou ao que ele chama de “acostamento”, a aproximação entre orixás e santos pela proximidade de histórias. Ogum e São Jorge. Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes. Isso pode explicar melhor o sincretismo e também o fato de que, apesar de menos de 1% dos brasileiros se declararem seguidores de religião de matriz africana, as festas de Iemanjá, por exemplo, atraem milhões de pessoas em cidades litorâneas no Brasil todos o anos.
Há 12 anos, Clóvis aluga uma casa na Rua Sofia Veloso, bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, onde mantém a sede do Centro Afro Brasileiro Xango Agandju e Caboclo Pena Verde, que realiza cultos de batuque e umbanda, e do Conselho Estadual da Umbanda e dos Cultos Afro-brasileiros do RS (Ceucab-RS), organização da qual é presidente. Ele diz que muitos vizinhos frequentam o terreiro, apesar de não serem declaradamente seguidores da religião afro.

Desterritorialização
O fato de regiões da Capital como o bairro Cidade Baixa, que no passado foram de moradores majoritariamente negros, não terem mais essa característica, é um processo que Mãe Vera chama de desterritorialização. Onde hoje está o Largo Zumbi dos Palmares, por exemplo, havia um casarão para onde abolicionistas encaminhavam negros alforriados. Segundo Vera, ali viviam grandes ialorixás e estavam instalados os principais terreiros de Porto Alegre. Ela conta que uma história transmitida de geração para geração é que em uma das casas vivia o orixá Bocum, que ali teria vivido desde que foi trazido em um navio negreiro junto com os escravos e permaneceu na Cidade Baixa até o processo de desterritorialização da comunidade negra do bairro para a periferia da cidade. “Ali viveu uma comunidade inteira, que foram tirados e levados para a Restinga nos anos 60. Hoje é uma cidade e eu hei de estar viva para ver a Restinga se emancipar, mas na época era barro puro, sem estrutura nenhuma”, diz Vera.
A mãe de santo, que também participou de eventos da Semana da Consciência Negra na Câmara, falando, entre outras coisas, sobre o processo de apagamento histórico dos territórios negros em Porto Alegre, questiona que, depois de muitos anos, o largo recebeu o nome de Zumbi dos Palmares para homenagear o povo negro, mas até hoje não há no local nenhum momento que remeta aos seus antigos moradores. O mesmo ocorre no Parque da Redenção. “Não é por acaso que o Parque Farroupilha é chamado de Redenção. As negas alforras, os alforriados sem lenço e sem documento, sem a menor infraestrutura, com a sub vida que tinham, se reuniam ali, que era tudo mato e ficou conhecido como Redenção. Para ti ver que a ironia do destino é tão forte, hoje ali tem imagem de tudo, tem até de Buda, mas não tem nada da matriz africana, não tem uma referência ao povo negro que sobreviveu ali”, diz Vera.
No antigo Largo dos Enforcados, onde os negros eram levados para serem mortos, hoje há a escultura O Tambor, mas esta é a única referência histórica em um espaço que atualmente é conhecido como Praça Brigadeiro Sampaio.

O processo de desterritorialização e apagamento histórico ocorreu em muitos outros espaços que tradicionalmente eram cultuados pelo povo negro em Porto Alegre. Uma exceção, ainda que de forma imaterial, é o Mercado Público, onde está o Bará, orixá que representa o movimento, a mudança, a virilidade e a sexualidade. Aquela região, na origem de Porto Alegre, era onde viviam os escravos que trabalhavam no porto. No início do século XX, Osuanlele Okizi Erupê, o príncipe de Ajudá, no Golfo da Guiné, que no Brasil adotou o nome José Custódio Joaquim de Almeida e ficou conhecido como Príncipe Custódio, um famoso líder religioso da Capital na virada do século, instalou o Bará. “Ali, ele considerou que era a primeira encruzilhada de Porto Alegre, ou seja, o primeiro cruzeiro, e é um lugar que hoje preserva uma tradição toda”, diz Vera, acrescentando que os movimentos negros estão prontos para se manifestar caso um eventual processo de privatização traga modificações para o Mercado Público.
Mãe Dolores diz que conhece bem esse processo de desterritorialização no Rio de Janeiro, onde mora. Segundo ela, isso se acentuou a partir da reforma Pereira Passos, uma iniciativa do então prefeito do Rio de Janeiro Francisco Franco Pereira Passos, que, a partir de 1903, iniciou uma série de transformações urbanísticas. Inspirado nas transformações de Paris, ele buscou adaptar o Rio de Janeiro para a circulação de veículos, então ainda de tração animal, com a abertura de avenidas. Uma das áreas mais modificadas da cidade foi a zona portuária, que então era um dos principais territórios negros da cidade. Derrubam-se cortiços e seus antigos moradores foram dar origem às favelas, nos morros e nas periferias cariocas. “Com a chegada dos escravos ali para a costa, o centro da cidade foi onde constituíram as primeiras casas do candomblé do Rio de Janeiro. E a reforma Pereira Passos, com essa faxina étnica, vai promover essa expulsão”, diz. Para ela, o processo de desterritorialização e de intolerância faz parte do mesmo processo que ela chama de genocídio dos povos tradicionais.

Clóvis destaca que, apesar de hoje a Brigada Militar até participar de procissões “vindo na frente” do povo, antigamente, a polícia era utilizada como braço institucional de repressão contra os cultos praticados em terreiros. “Nós temos um histórico de perseguições que estão muito arraigadas no nosso interior, no nosso âmago, na nossa essência. Nós temos até hoje um certo pavor de ouvir falar em policial, em Brigada Militar, porque nós tínhamos terreiros que estavam tocando o seu ritual e, às vezes, eram impedidos pela cavalaria da Brigada Militar. E aquele soldado que estava montado a cavalo para derrubar o terreiro, era primo, irmão de quem estava fazendo o ritual. Imagina a dor desse pessoal”.
Clóvis diz acreditar que a ascensão dos movimentos sociais negros levou à diminuição da repressão oficial aos espaços de cultos afro-brasileiros. No entanto, ele acrescenta outro comentário que talvez também ajude a explicar a maior aceitação na atualidade, ao menos em Porto Alegre, dessas religiões. “É sabido que a nossa população majoritária é de origem africana, mas há um paradoxo nisso tudo. O afro-descendente hoje é minoria dentro da religião afro brasileira. Hoje, nós temos mais babalorixás e ialorixás de olho azul e sobrenome italiano entre os nossos associados do que de negros e pardos. Tu vai num terreiro de umbanda hoje ou de nação africana, tu vê mais branco do que negro. Porque a cultura de matriz africana conseguiu se manifestar e conquistar espaço”, diz Clóvis.
Apesar de esse tempo de repressão oficial ter passado, Vera destaca que o racismo e a intolerância religiosa voltaram a aflorar depois do processo político de esquerda, que, segundo ela, foi o período em que mais se dialogou com a religião africana. Outro fator que alimenta a intolerância, segundo a mãe de santo, é o crescimento de igrejas pentecostais que acusam as cultos afro brasileiros de serem “religiões do diabo”. “Para essas igrejas que fazem tudo pelo poder, não pela fá, não pelos valores, a fragilidade do povo negro, da nossa história, a falta de força política, foi um doce na mão deles. Eles fazem tudo isso que estão fazendo, incluindo a volta dessa depredação que acontecia no século XVIII e XIX, quando quebravam os terreiros, a polícia entrava, os cavalos entravam e mandavam matar. Hoje eles trazem esse mesmo processo de racismo com uma nova roupagem”, avalia.

O papel do movimento negro
Mãe Dolores credita a questões ideológicas e políticas o fato de que a preservação de terreiros e a promoção das religiões de matriz africana, no passado, não tenham sido elencadas como pautas prioritárias do movimento negro, mas salienta que, com o tempo, isso foi ganhando centralidade. “Por um lado, esse lugar é o único que preserva nossas tradições e, por outro, precisou se constituir uma pauta em separado frente a tudo que está acontecendo. Na verdade, tudo que acontece, que chama-se de intolerância religiosa e nós chamamos de genocídio dos povos tradicionais, é uma faceta do racismo”, diz. “Quando se fala em intolerância religiosa, parece algo que se resolve com duas conversas, mas o genocídio continuado dos valores do nosso povo, não”.
Pérola Sampaio, que é militante do Movimento Negro Unificado (MNU), diz que sua formação religiosa não teve origem na matriz africana. Na verdade, por influência de sua mãe, que era missionária de uma igreja evangélica, era pentecostal. Acabou se afastando da religião à medida que foi crescendo e envolvendo-se com a militância política, na defesa de pautas como a não criminalização do aborto, o acolhimento das mulheres que passam por essas experiências, a não criminalização da homoafetividade, entre outras pautas que não via sendo representadas no espaço religioso.
Agora, contudo, ela enxerga a importância do movimento negro se somar à defesa das chamadas religiões de matriz africana, que considera que pagam um “preço muito alto” para manter suas tradições. “No meu caso, que posso me julgar neutra religiosamente, tenho a nitidez que a importância da religião de matriz africana é defender a resistência. É defender o que Zumbi do Palmares fez, que é nos trazer essa tradição africana de resistência, de respeito aos outros, de respeito às diferenças, tendo vista que os quilombos dos Palmares não aglutinavam apenas negros excluídos pela escravidão, mas também indígenas e brancos excluídos socialmente na sociedade escravocrata. Então, a valorização da religião de matriz africana se dá muito por isso, pela resistência, pela auto-estima, pela valorização das vestimentas que a gente cultua, pelos adornos que utilizamos como uma forma estética de beleza enquanto mulher negra, as nossas noções de solidariedade”, diz.